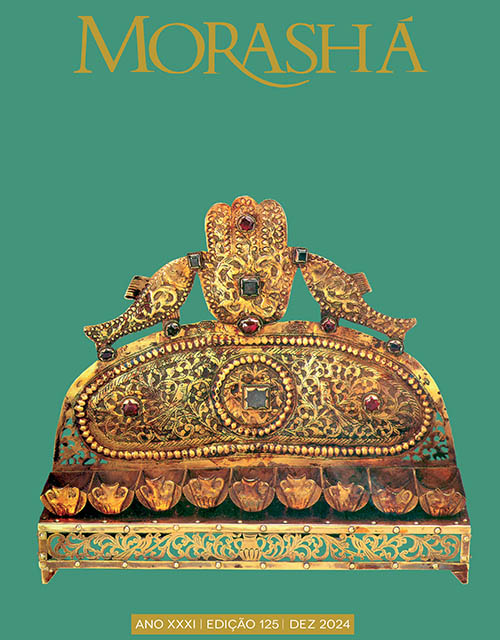Inúmeros são os estudos comprovando que o ideário racista e xenófobo, propagado pela Alemanha nazista, influenciou intelectuais, cientistas e diplomatas brasileiros, como ocorreu durante o governo de Getúlio Vargas (1933-1945), período em que o antissemitismo foi endossado como política secreta de Estado.
É fato que um projeto racista começou a ser implementado no Brasil, a partir de 1933, inspirado nas propostas eugênicas de “higienização da raça” defendido por médicos eugenistas, que desde a década de 1920, debatiam a questão imigratória como “problema”, ou seja, como uma ameaça. Tais ideias inspiraram as emendas para a nova Constituição de 1934, que culminaram com aprovação do sistema de quotas para a imigração, dificultando a entrada no Brasil de japoneses, ciganos, judeus e negros. Três anos depois, essa mesma “política de aparências” favoreceu a aprovação da primeira circular secreta contra a entrada de imigrantes “semitas” (leia-se judeus) no Brasil, que levaria ao auge o antissemitismo adotado como política de bastidores do governo Vargas e Dutra.
Tais ações secretas favoreceram a circulação de mitos, dentre os quais o do judeu errante, traidor e mentor da conspiração judaico-comunista. A partir de 1934, distintas formas de representação do judeu fugitivo da Alemanha Nazista e países ocupados começaram a circular pelos discursos diplomáticos e policiais, assim como da imprensa brasileira. Tanto a caricatura como a fotografia serviam aos interesses de intelectuais, médicos, psiquiatras, diplomatas e autoridades policiais, que encontravam na figura do judeu alguns sinais de estranhamento e repulsa. Segmentos da população ilustrada brasileira se mostraram coniventes com essas políticas de aversão e exclusão dos judeus, impressionados que estavam com a modernidade alcançada pelo Nacional-Socialismo na Alemanha.
Uma das principais frentes antissemitas daAção Integralista Brasileira, criada em 1932 por Plínio Salgado, era liderada por Gustavo Dodt Barroso, diretor do Museu Histórico Nacional desde 1922 e presidente da Academia Brasileira de Letras em 1932, 1933, 1949 e 1950. O pensamento antissemita de Gustavo Barroso – que não tinha conhecimentos aprofundados sobre judeus e Judaísmo – tomou forma após a leitura da edição francesa da obra apócrifa Os Protocolos dos Sábios de Sião, um dos maiores blefes da história, propagador das teorias conspiratórias antissemitas. Inspirado por essas leituras, Barroso escreveu Brasil, Colônia de Banqueiros onde analisa a questão judaica, vindo a traduzir e comentar Os Protocolos dos Sábios de Sião, reeditado no Brasil em várias edições até 1991. Nos três volumes da sua História Secreta do Brasil (1937), Barroso acusa os judeus de praticarem rituais de sacrifício no sertão baiano, no século 19, e de estarem infiltrados na Burschenschaft Paulista (informalmente “Bucha”), sociedade secreta, liberal e filantrópica que atuava na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
Em 1932, um grupo de intelectuais saiu em defesa dos judeus ao organizarem a coletânea Por que ser Anti-Semita? Um inquérito entre Intelectuais Brasileiros (Ed. Civilização Brasileira, 1933), obra que provocou, de imediato, a reação do integralista Brasilino de Carvalho, autor de O Anti-semitismo de Hitler (Bahia, 1934). Criticando o julgamento apressado daqueles intelectuais, o livro investe contra os judeus, diabolizados e animalizados na capa, como perigo judaico-comunista. Temos também Os Judeus do Cinema (1935), de Oswaldo Gouvêa, intelectual antissemita que mais escreveu sobre o cinema no jornal A Razão, tendo como referência as críticas à Hollywood. Gouvêa alerta sobre a suposta ligação de judeus com a indústria cinematográfica, que exercia uma influência negativa para os jovens brasileiros.
Em 1933, Marcio Campos Lima publicou, no seu livro Os Judeus na Allemanha no Momento Actual (Flores & Mano: 13-19), a crônica “Em favor de Israel”, de Humberto de Campos, reeditado em 1954 como o título “Os Párias” (Ed. W. M. Jackson: 245-251). Neste seu ensaio, Campos – membro da Academia Brasileira de Letras, à época da ascensão do nazismo – se mostra indignado com a postura da intelectualidade brasileira diante da tragédia que pairava sobre os judeus na Alemanha que, em 1933, já estavam ameaçados pelo antissemitismo de Hitler. Campos, apesar de expressar sua solidariedade aos judeus, recupera o mito acusatório de que os judeus são exploradores dos cristãos, com o objetivo de dominar secretamente o mundo, para depois sugerir ao Brasil “abrir os braços a Israel, na hora em que o perseguem no Velho Mundo”, com a ressalva: “Venham com os livros e com os livros de cheque”.
Fica evidente que, nos anos da década de 1930, os judeus passaram a ser estigmatizados e tratados como “indesejáveis” e/ou como representantes de uma raça inferior, degenerada. Daí as expressões: “perigo semita”, “perigo vermelho/comunista”. No seu conjunto, a iconografia nos oferece expressivos elementos para os estudos da mentalidade racista e persistência dos mitos antissemitas no imaginário brasileiro. Vinculando este discurso à história da imigração e da cultura política no Brasil, temos a possibilidade de reconstituir um amplo quadro de estruturas mentais que, ao longo dos séculos, moldaram a produção de imagens antissemitas idealizadas pelos chargistas.
Geralmente o imigrante judeu – interpretado como um perigo – recebeu avaliações apressadas que, muitas vezes, instigaram atitudes de repulsa e ódio à comunidade judaica radicada no Brasil. Há evidências de que os autores dessas imagens se inspiravam na propaganda nazista, usada de forma massiva para doutrinar a população contra os judeus responsabilizados pelos “males que atingiam a nação alemã”.
A teoria do etiquetamento
Entre 1930 e 1945, o governo de Getúlio Vargas colocou em prática uma política imigratória restritiva, xenófoba e antissemita. Vetou, com base em argumentos racistas, a concessão de vistos aos judeus, ciganos, negros e japoneses, transformados em seres indesejáveis, “indigestos”. Não interessava ao Brasil receber os “semitas” que fugiam da violência perpetrada pelos nazistas porque – segundo as autoridades diplomáticas e policiais brasileiras – eles colocavam em risco o processo de construção da raça e da brasilidade. Em sua essência, essa posição vinha atrelada a uma prática orientada para o futuro da nação, que deveria incentivar apenas a entrada de “bons” imigrantes, tendo como critérios elementos étnicos e ideológicos. Assim, as correntes imigratórias não poderiam estar comprometidas com a ideia de “corrosão social” e com as “doutrinas exóticas”, traços pertinentes à imagem estereotipada dos judeus avaliados como inassimiláveis, comunistas, parasitas e avessos ao trabalho agrícola. Persistia no imaginário coletivo a ideia de que os judeus eram parasitas que viviam às custas do trabalho alheio, além de serem revolucionários bolcheviques ou exploradores capitalistas etc. Enfim, eram acusados de articularem um complô para dominar o mundo, como pregavam Os Protocolos dos Sábios de Sião e O Judeu Internacional (The International Jew), de Henry Ford, publicado em 1920.
O controle deste fluxo imigratório se fazia em nome da segurança nacional, sendo aplicado em primeira instância pelos diplomatas brasileiros em missão na Europa, com o objetivo de impedir a entrada no Brasil dos judeus “indesejáveis”, em sua maioria apátridas. A estratégia adotada pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o Itamaraty, foi aplicar um conjunto de normas de controle que, por não serem condizentes com a Constituição brasileira, eram veiculadas por meio de Circulares Secretas, entre 1937 e 1949, trazendo graves consequências para os refugiados judeus e não judeus, e seus familiares. Como exemplo desta “triagem” inicial, reproduzo algumas fotografias enviadas por Jorge Latour, da Legação do Brasil em Varsóvia, com o fim de comprovar o quanto os judeus poloneses eram um “perigo a ser evitado”. Em seu relatório de 8 de novembro de 1936, Latour caracteriza-os como “aves de rapina, gananciosos e usurários”. (Carneiro, O Antissemitismo na Era Vargas: 236-237).
Analisando os traços dominantes da psiché do hebreu, Latour assim o definiu em seu Estudo sobre a Emigração Israelita da Polônia para o Brasil: têm amor ao dinheiro que se traduz na avidez pelo lucro, o que, por sua vez, lhe desenvolveu a “bossa comercial”, apanágio de todas as raças semitas. Na sua opinião, essa “bossa comercial” causava “atrofia profissional” do judeu que se dedicava às profissões parasitas, tornando-o um antissocial latente, cuja moral fundamenta-se na hipocrisia. Considerava que o judeu tinha vocação para o êxodo que o transformava em um emigrante nato. Seu espírito subversivo decorria das suas faculdades políticas atrofiadas, que o transformavam em um amante das organizações secretas – um maçon, predisposto a endemias voluntárias. [Idem: 236]
No mínimo, cerca de 14 mil judeus refugiados ingressaram no Brasil portando falsos documentos que os identificavam como católicos, turistas ou profissionais em trânsito. Mesmo assim e apesar das restrições, centenas deles receberam vistos permanentes por terem adquirido terras no Brasil, através de projetos de colonização, ou por portarem vistos aprovados dentro das cotas permitidas pela legislação brasileira. O controle sobre a comunidade dos refugiados radicados no Brasil cabia ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores que, através da Polícia Política, saía em busca dos “ilegais”. Movido por lógica própria – a da desconfiança – e com a função específica de purificar a sociedade das raças e ideologias ditas “malditas”, “degeneradas” ou “perniciosas” à ordem social, o discurso antissemita ajudava as autoridades policiais a identificar os judeus indesejáveis com base no “status de evidência”.
As narrativas produzidas pelos diplomatas brasileiros no exterior, assim como os prontuários nominais e dossiês organizados pela Polícia Política brasileira, apesar de naturezas distintas, colaboraram para manter uma “verdade aparente’’. Os argumentos antissemitas serviam para justificar o indeferimento de vistos com o objetivo de “purificar” as sociedades brasileiras das ideias insanas, revolucionárias e de vanguarda, assim como de impedir a entrada de representantes de uma “raça denegerada”. Além de comprovar a perniciosidade das ideias e comportamentos negativos dos refugiados judeus, procurava-se também por vestígios do seu passado na Europa que pudessem servir como “provas da sua periculosidade”.
Cruzando as versões diplomáticas com as policiais e aquelas veiculadas pela grande imprensa temos possibilidade de recuperar o raciocínio “lógico” dos ordenadores. Geralmente o imigrante ou refugiado judeu era descrito como desumano, imoral e violento, imagem reforçada pela fotografia e pela charge que lhes davam forma. As possibilidades de identificação eram múltiplas, ganhando estatuto de prova “documental”. Muitas vezes, constatamos a coexistência de dois mundos paralelos: o submerso, visível, dito “real”; e o clandestino, movediço, sombreado, dito recluso.
Sobre os judeus ilegais recaía a culpa pela infração, pois haviam ultrapassado os limites do permitido. Se reincidentes, transformavam-se em “reféns do seu próprio passado”, distinção formal decorrente do estigma da criminalização, do labelling approach ou teoria do etiquetamento. Esta teoria é enquadrada como a “desviação”, ou seja, uma qualidade atribuída por processos de interação altamente seletivos e discriminatórios. O judeu “indesejado” era demonizado e animalizado, exigindo, por parte das autoridades policiais, intervenções preventivas que, por sua vez, aproveitavam-se dos medos populares e dos perigos misteriosos.
O judeu foi visto, nas décadas de 1930 e 1940, como indivíduo desajustado, vulnerável e propenso ao desvio, sendo avaliado como fonte de perigos e incertezas. A veiculação de notícias na imprensa e a circulação de obras antissemitas contribuiram para aumentar ainda mais a reprovação social, estigmatizando-os como estranhos à ordem nacional. Este processo de estigmatização deixou vestígios no imaginário coletivo que, nos dias atuais, continuam a se alimentar de um conjunto de mitos políticos. Clichês xenófobos e racistas eram reforçados pelas imagens criadas pelos caricaturistas que, através do humor e da sátira política, veiculavam valores preconceituosos nos jornais e nas revistas ilustradas brasileiras.
Mudanças de paradígmas
As imagens veiculadas sobre os judeus, nas décadas de 1930 e 1940, no Brasil, permitem identificar uma das facetas do antissemitismo fundamentado na ideia de raça degenerada e perigo político. Somente após a divulgação dos crimes cometidos pelos nazistas julgados em Nuremberg (1946) e acreditando que a Partilha da Palestina sob mandato britânico ofereceria uma solução para a questão judaica, é que o governo brasileiro optou por apoiar a formação de um Estado Judaico naquela região. Os benefícios eram múltiplos: além de expressar o endosso do Brasil às iniciativas humanitárias dos Estados Unidos, também se apresentava como uma solução para o fluxo dos judeus sobreviventes do Holocausto (re)direcionados para o novo lar judaico, o futuro Estado de Israel. [Carneiro, Cidadão do Mundo: 391-400].
Após a Partilha da Palestina em 1947, o presidente Dutra – cujas tendências germanófilas, antissemitas e anticomunistas marcaram sua atuação no governo Vargas – não via com bons olhos os rumos tomados pelo recém-criado Estado de Israel, ao seu ver um futuro “satélite comunista”. Incomodava o governo brasileiro a criação dos kibutzim, modelados pelas práticas socialistas, da mesma forma como “estranhava” o reconhecimento imediato da URSS (1948) a Israel. A esses fatos somou-se o auxílio armamentista dado pela Tchecoslováquia, aliada dos israelenses contra os árabes insatisfeitos com a Partilha da Palestina. Apesar do Holocausto, o governo Dutra manteve circulares secretas (1946-1949) proibindo a concessão de vistos aos judeus, classificando-os como desqualificados e desequilibrados mentais. Tais posturas levaram o Brasil a retardar para 7 de fevereiro de 1949 seu reconhecimento oficial ao Estado de Israel e para 1952 o estabelecimento das legações diplomáticas naquele país (Carneiro, O Veneno da Serpente: 119-122).
Um constante clima de tensão marcou, durante todo o período da Guerra Fria, o posicionamento do governo brasileiro, comprometido de um lado com a sua tradição antissemita e, de outro, com os ideais democráticos defendidos pelos Estados Unidos. Em maio de 1949, durante a Assembéia da ONU, o Brasil se absteve na votação sobre a admissão do Estado de Israel naquela organização (aprovada pela Resolucão n. 273, III), condicionando seu voto à “estrita implementação por Israel das resoluções relativas à internacionalização de Jerusalém e à questão dos refugiados árabes”.
Esta equidistância pragmática (de concialiação) manteve-se até 1975, quando o governo brasileiro, atingido pela crise mundial do petróleo, optou por uma mudança radical: votou na Assembléia Geral da ONU a favor da Resolucão n. 3379, que qualificava o “sionismo como forma de racismo e discriminação racial”.
A partir da Intifada – nome popular das insurreições dos palestinos da Cisjordânia contra Israel – a mídia brasileira reforçou a associação negativa entre sionismo/racismo ao taxar Israel de “potência racista e exterminadora”. A construção dessas imagens – deturpadas pela desinformação, interesses políticos e econômicos – implicou no surgimento de uma nova vertente antissemita, fundamentada, desta vez, em argumentos políticos. Desapareceram do discurso de ódio aos judeus os argumentos pseudocientíficos sustentados pela Alemanha Nazista e países colaboracionistas até o final da 2ª Guerra Mundial (Carneiro, O Veneno da Serpente: 132-136).
A partir da Guerra dos Seis Dias (5 – 11 de junho de 1967), novas narrativas antissemitas passaram a circular pela mídia e universidades brasileiras, ignorando que a formação do Estado de Israel tem uma dimensão histórica. As palavras genocídio, Holocausto, campo de concentração, apartheid, massacre e chacina tornaram-se usuais para classificar as ações militares do Estado de Israel, versões retomadas a partir de outubro de 2023 para identificar o governo de Benjamin Netanyahu. Critica-se a legitimidade do Estado de Israel de continuar a existir enquanto nação e, por extensão, de todo o Povo Judeu. Este novo discursonão nega o Holocausto, mas apela para a inversão: equiparando os judeus aos seus perpetradores nazistas, sendo Gaza comparada a Auschwitz ou ao Gueto de Varsóvia. Travestido de antissionismo, Israel é apresentado como um país “expansionista”, “genocida”, “usurpador de cidadania”, “força de ocupação e opressão”. Os países árabes e o povo palestino aparecem de forma generalizada como “vítimas massacradas pelos judeus”, descritos como “povo armado e dominador”.
A atual situação de guerra no Oriente Médio, desde o ataque à Israel pelo grupo terrorista Hamas, em 7 de outubro de 2023, tem contribuído para acirrar os discursos de ódio contra os judeus e o Estado de Israel, propagados tanto por grupos da extrema-direita como da extrema-esquerda brasileiras. Podemos nos referir também a uma nova ignorância pautada na desinformação que, apropriando-se de clássicos conceitos estigmatizantes, tem contribuído para a distorção de realidades e atualização dos mitos políticos. Nestes tempos sombrios de reciclagem do antissemitismo travestido de antissionismo, novos cenários se estabeleceram abrindo espaço para a reconstrução da imagem do judeu como inimigo-objetivo, conceito que alimenta a violência política.
Enfim, as metáforas biológicas e zoológicas foram sendo substituídas por vocábulos emprestados da política, cultura, religião e do imaginário coletivo conjugados. Infelizmente não conseguimos adentrar no século 21 ilesos de fobias racistas construídas pelos inimigos da democracia e negacionistas da ciência. Valendo-se de falsas ideias e levando à configuração de perigos e mundos imaginários, os atuais antissemitas continuam a investir na visão falseada da realidade alimentada por fake news. Enquanto um fenômeno sociopolítico, constatamos que o atual antissemitismo se encontra enraizado na mentalidade de parte da sociedade brasileira, interferindo nas relações institucionais, econômicas, culturais e políticas do Brasil com o Estado de Israel. Podemos nos referir também a uma nova ignorância pautada na desinformação que, apropriando-se de clássicos conceitos estigmatizantes, tem contribuído para a distorção de realidades e a reciclagem dos mitos políticos. Importante lembrar que, para as novas gerações, as lições do passado exigem um exercício permanente de memória, não necessariamente de via única, sendo a educação um importante instrumento de transformação.
Maria Luiza Tucci Carneiro, historiadora, Professora Sênior da Universidade de São Paulo. Autora dos livros: O Antissemitismo na Era Vargas; Cidadão do Mundo; Dez Mitos sobre os Judeus; e organizadora da coletânea Discursos de Ódio, dentre outros títulos.