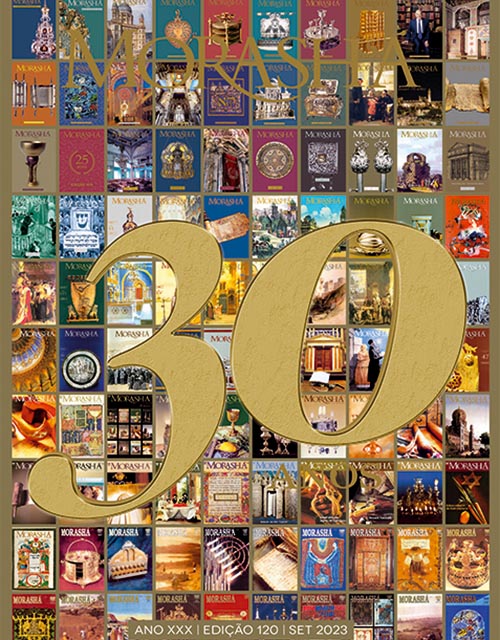Na década de 1990, o Ministério do Turismo de Israel costumava imprimir belas fotografias que exibiam diversos aspectos do país, com a seguinte legenda: “Israel – Nunca um momento de tédio”. Em 1993, quando esta revista nasceu, Israel atravessava um ano no qual determinados acontecimentos deixaram marcas expressivas em sua trajetória econômica e social, com desdobramentos que se estendem até os dias atuais.
UM NOVO PAÍS
Quando a União Soviética colapsou em 1991, a população de Israel contava perto de 4,66 milhões de habitantes. Em 1993, o censo apontava mais de cinco milhões e 260 mil almas. Este robusto acréscimo demográfico foi consequência imediata e direta do fim do regime comunista que determinou a abertura dos até então lacrados portões de saída de todas as repúblicas soviéticas que gravitavam em torno do poder de Moscou.
Essa abertura proporcionou, ao longo dos anos 1990, a emigração de mais de um milhão de judeus para Israel, um êxodo com verdadeiros contornos bíblicos. Conforme acentuei em artigo para a edição n. o 110 desta revista, em março de 2021, inexiste na história moderna outro país que tenha aumentado a sua população em 20 por cento no decorrer de uma década. O jornalista israelense Matti Friedman presenciou o desembarque da primeira leva de novos imigrantes russos. Naquele mesmo momento, Israel começava a ser atingido por mísseis Scud, disparados pelo Iraque de Saddam Hussein, na 1ª guerra do Golfo. Mesmo assim, o desembarque prosseguiu em meio a manifestações de euforia. Outro jornalista observou, 30 anos atrás: “É como se em dez anos os Estados Unidos tivessem absorvido toda a população da França e da Holanda”. Houve, ainda, quem dissesse que o êxito dessa imigração era um milagre. A absorção dos russos não foi um milagre, mas o resultado de enorme consciência nacional, de um esforço econômico sem precedentes e de um complexo planejamento graças ao qual, para os recém-chegados, não faltou água, um bem sempre escasso no país, nem tetos que os abrigassem, nem escolas para as crianças.
A adaptação de um milhão de russos em Israel, a partir de pouco mais de 30 anos, foi tão única, que desafia a avaliação dos mais minuciosos antropólogos e sociólogos. Embora chamados de russos, da Rússia mesmo só emigrou um terço dos judeus. Outro terço era oriundo da Ucrânia e os demais viviam em diversas repúblicas soviéticas, com destaque para a Geórgia. Todos esses novos imigrantes, ao mesmo tempo em que se tornaram cidadãos israelenses integrais, souberam preservar seu idioma, sua cultura, tradições e gastronomia. Não houve um choque entre a sociedade já existente e a que lhe foi acrescida. Pelo contrário, houve uma complementação e um enriquecimento estendido aos meios de comunicação com a impressão de publicações em cirílico, além de programas de rádio e de televisão falados em russo. Além disso, houve uma parte significativa de recém-chegados dotada de alta qualidade profissional.
A União Soviética era notória pela quantidade de competentes matemáticos e físicos que abrigava, tanto assim que tinha sido pioneira na conquista do espaço com o satélite artificial Sputnik e, depois, com o primeiro voo tripulado. Os acadêmicos judeus vindos da Rússia foram fundamentais para o avanço tecnológico, científico e digital que vem sendo alcançado por Israel, um avanço ainda crescente. Ao mesmo tempo, os casais jovens acreditaram no futuro e não hesitaram em ter filhos, incrementando o aumento demográfico.
Parte dessa geração, nascida no início dos anos 1990, que hoje está na casa acima dos 30 anos de idade, foi atraída pelo ativismo político, junto a compatriotas mais idosos que, antes da maciça emigração, já se haviam radicado no país com grandes ambições de ocupar espaços na vida pública do país. Nesse ímpeto, avultaram personalidades como Natan Sharansky, titular de cargos ministeriais e presidente da Agência Judaica. Outro a alcançar destaque foi Avigdor Liberman, oriundo da Moldávia (antiga Bessarábia), fundador de um partido político que tem sido crucial para a formação de coalizões governamentais em Israel. Liberman, atual deputado no parlamento, atingiu três dos mais importantes cargos no governo: ministro das Finanças, da Defesa e das Relações Exteriores.
No início dos anos de 1990, o establishment político de Israel se dividia em duas correntes majoritárias: o partido trabalhista e o conservador, ou esquerda e direita como agora se prefere, ambos exercendo rotatividade no poder. Os novos imigrantes não tinham a mais remota intimidade com a democracia, mesmo porque nos últimos mil anos a Rússia jamais havia experimentado um só dia sob regime democrático. Eles tinham, sim, o mais profundo horror ao regime comunista e tudo que beirasse a socialismo. Em pouco tempo, os judeus russos apreenderam os meandros da conquista do poder através do voto popular, ignoraram a esquerda configurada no Partido Trabalhista e se voltaram para a direita, causando um impacto espetacular no espectro eleitoral israelense. Assim, robusteceram o Partido Likud, então liderado por Ariel Sharon, cuja invalidez em 2008 e morte seis anos depois, propiciaram a ascensão política de Binyamin Netanyahu. Este passou a contar com expressiva parte do eleitorado russo, que se manteve em sucessivas eleições, uma das principais circunstâncias para a sua longevidade no poder.
GOVERNO DE ALTO NÍVEL
Em 1993, Israel tinha o veterano e experiente político e militar Yitzhak Rabin como primeiro-ministro. Era a segunda vez que ocupava a mais alta posição do país. Em anos recentes, havia comandado o Ministério da Defesa durante 72 meses, atuando em seguida como líder da oposição no parlamento. Tinha sido obrigado a renunciar ao primeiro mandato por uma questão minúscula: sua mulher, Leah, mantinha uma conta bancária com saldo de 120 dólares nos Estados Unidos, movimentada no tempo em que era embaixatriz em Washington, uma conta não declarada em seu imposto de renda.
O Ministério das Relações Exteriores contava com a competência de Shimon Peres, o político israelense detentor do mais absoluto domínio das complexidades das relações internacionais. Em 1993, lançou o livro O Novo Oriente Médio no qual sustentou a tese segundo a qual somente convergências de ordem econômica poderiam propiciar a paz na região. O livro sofreu ácidas críticas da direita, que o classificou como uma dissertação utópica e, portanto, sem valor. No entanto, os recentes Acordos de Abraão, celebrados por Israel com os Emirados Árabes, Bahrein e Marrocos demonstram a acuidade da visão de Shimon Peres.
O ano de 1993 marcou a ascensão de um jovem militar chamado Ehud Barak, que, naquela altura, era o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do país. Nascido num kibutz em 1942, Barak subiu na hierarquia militar por se comportar de forma diferente dos demais oficiais de escalações superiores: não se resumia a ditar ordens à distância e aguardar resultados. Fazia questão de participar das ações junto com seus comandados. Assim aconteceu em maio de 1972, quando membros da organização Setembro Negro sequestraram um Boeing 707 da companhia aérea belga Sabena. O avião aterrissou no aeroporto de Tel Aviv, onde os sequestradores exigiram a soltura de companheiros que cumpriam sentenças em Israel. O próprio Barak esteve à frente dos comandos. A pequena tropa tomou o avião de assalto, tendo eliminado dois sequestradores e feito prisioneiros outros dois. Dos 98 passageiros, somente um foi vítima de disparos fatais.
Em abril do ano seguinte, Barak liderou um grupo de comandos que desembarcou numa praia de Beirute, no Líbano, e, usando os mais diferentes disfarces, chegou até um prédio no centro da cidade onde havia alvos estratégicos. Cumprida a missão, os comandos da tropa Sayeret Matkal retornaram aos botes e navegaram de volta para a costa de Israel.
Em 1999, apoiado por Rabin e Peres, Ehud Barak assumiu como primeiro-ministro. Mostrou, então, que além de ações de combate, também tinha a paz em sua agenda. Em maio de 2000, atendendo à Resolução N.o 245 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Barak ordenou a retirada das tropas que Israel mantinha no sul do Líbano, ou seja, ao norte de Israel. Como consequência, o espaço foi tomado pelo grupo Hezbolá, que, até hoje, desfere ataques com foguetes contra Israel a partir daquele território.
O momento crucial da carreira de Barak aconteceu em julho de 2000, quando, a convite do presidente americano Bill Clinton, participou da Cúpula de Camp David ao lado de Yasser Arafat, chefe da OLP. No último dia das negociações, Barak fez a Arafat uma proposta que parecia irrecusável. Em troca de um acordo de paz, Israel devolveria aos árabes 95% da Cisjordânia e abriria mão da parte oriental de Jerusalém, que seria a capital de um futuro estado palestino. Arafat recusou. Decepcionado e irritado, Bill Clinton lhe disse: “O senhor está cometendo um erro que afetará gerações de seu povo”.
Na autobiografia que escreveu, Clinton desfere suas críticas mais contundentes a Arafat. Quando seu segundo mandato estava terminando, ele questionou Arafat sobre seu real desejo de fazer a paz após o fracasso da cúpula de Camp David e falou de sua perplexidade em face à eclosão de uma nova Intifada. Em sua autobiografia de quase 900 páginas, Clinton sugere que Arafat pode não ter estado em plena capacidade mental nos meses finais das negociações, dizendo que “ele parecia confuso e alheio ao comando dos fatos”. Em junho de 2001, a revista Newsweek revelou um diálogo até então desconhecido entre Clinton e Arafat. Na cerimônia em que Clinton se despediu da Casa Branca, Arafat lhe fez elogios, aos quais o presidente respondeu: “Também tive alguns fracassos e o senhor é o responsável pelo maior
deles”.
UM GIGANTE NA ONU
No início do ano de 1993, Chaim Herzog vivia seus últimos meses na presidência de Israel que assumira dez anos antes. Nascido em 1918 em Belfast, na Irlanda do Norte, criado em Dublin, era filho do rabino-chefe da Irlanda, Itzhak Levi Herzog. Emigrou para a Palestina Britânica em 1935 e logo se engajou na Haganá (exército judeu clandestino), onde se revelou exímio estrategista. Quatro anos depois serviu no exército britânico durante a 2ª Guerra Mundial e regressou para Israel já independente, em 1948, quando participou da vitoriosa batalha de Latrun, essencial para garantir o acesso a Jerusalém.
Anos depois, deixou o exército israelense com o posto de major-general e estabeleceu um bem-sucedido escritório de advocacia até ser nomeado, em 1975, embaixador de Israel nas Nações Unidas. No dia 10 de novembro daquele ano, a Assembleia Geral das Nações aprovou a resolução, instigada por países árabes, que equiparou o Sionismo a uma forma de racismo.
No dia seguinte, o embaixador Herzog ocupou o pódio da ONU portando uma folha de papel e exclamou: “Aqui tenho o texto de uma infâmia. Eis o que se deve fazer com uma infâmia”. Num gesto eletrizante, rasgou o papel e descartou os pedaços. Fui entrevistá-lo em Nova York um dia depois de a sua fotografia rasgando o papel ser publicada em todos os jornais do mundo. Perguntei-lhe se aquele desempenho tinha sido consequência de um impulso ou uma ação premeditada. Respondeu ter ficado tão indignado com aquele voto da Assembleia que este havia concorrido para sua racionalidade se tornar mais consistente. Sabia com precisão o que faria no pódio, certo de que rasgar o papel seria mais eloquente do que qualquer discurso que viesse a pronunciar. Discorreu, em seguida, sobre as manobras escusas sempre feitas, na ONU, pelos inimigos de Israel e sobre os recursos de que dispunha para neutralizá-los no cumprimento da sua missão diplomática. Enalteceu a atuação favorável a Israel por parte de Daniel Patrick Moynihan, embaixador dos Estados Unidos na ONU. Moynihan deixava claro que não suportava Kurt Waldheim, então Secretário-Geral da Organização. Parecia possuir um dom premonitório. Após o mandato na ONU, Waldheim foi eleito presidente da Áustria, mas caiu no descrédito mundial quando foi revelado que ele havia integrado as tropas nazistas na invasão dos países bálticos, da Grécia e da Iugoslávia. Sua justificativa foi pouco original: “Eu estava apenas cumprindo ordens”.
Herzog concluiu a entrevista com uma frase inesquecível: “O antigo antissemitismo dizia que o judeu não tem lugar na sociedade. O moderno antissionismo diz que Israel não tem lugar no mundo”.
O CÉU ERA O LIMITE
No dia 13 de maio de 1993, em substituição a Herzog, a presidência de Israel coube ao político e militar da Força Aérea, Ezer Weizmann. Nascido em Tel Aviv em 1924, filho de um agrônomo e sobrinho de Chaim Weizmann, primeiro presidente do país, aprendeu a voar desde adolescente e iniciou sua longa carreira militar como piloto de caça durante a 2ª Guerra Mundial. Foi admitido na Royal Air Force Britânica com 18 anos de idade, e serviu no Egito e na Índia. Retornou à Palestina Britânica após a guerra. De imediato assumiu as atividades do rudimentar braço aéreo da Haganá. Logo após a independência foi enviado para a Checoslováquia com a missão de se aprimorar na pilotagem de aviões Messerschmidt, ali remanescentes da ocupação nazista. Seu regresso a Israel foi fundamental para a sobrevivência do país que, àquela altura, enfrentava a invasão de cinco exércitos árabes. Foi Ezer quem liderou mais de uma dezena de pilotos de diversos países que se voluntariaram para defender a nova nação. Eram na maioria americanos, veteranos do recente conflito mundial. Sob orientação e supervisão de Ezer Weizmann, a Força Aérea de Israel nasceu no calor das mais inusitadas circunstâncias. Suas ações em combate ignoraram planejamentos de guerra, treinamentos, manuais de manutenção de aeronaves, hierarquias, simulações de voos ou quaisquer outras regras. Durante a Guerra da Independência, Ezer atuou como piloto de caça em todas as frentes. Voou transportando munições e suprimentos para o Neguev, sendo nomeado líder de esquadrão em 1949 e nomeado, em caráter oficial, chefe de operações da Força Aérea. Assumiu o posto de comandante geral, cargo exercido durante sete anos. Às vésperas da Guerra dos Seis Dias, foi Ezer quem formulou a bem-sucedida operação aérea que destruiu a força aérea do Egito ainda no solo.
Aposentou-se em 1969 com o posto de major-general e passou a se dedicar à política com destaque no movimento Herut. No exercício da presidência, fez visitas de estado ao Reino Unido, Índia, África do Sul e Turquia, encontrando-se com líderes locais e das respectivas comunidades judaicas.
De seus tempos de piloto de caça, durante a Guerra da Independência, Ezer gostava de recordar um episódio que viveu como piloto junto com o voluntário americano Milton Rubenfeld. Ambos tinham voado na direção de Tulkarm, uma cidade egípcia perto da qual havia um aeroporto militar. A intenção deles era destruir as aeronaves que porventura estivessem no solo. No entanto, foram interceptados por um caça egípcio que atingiu Rubenfeld severamente. Este conseguiu pilotar rumo à costa até as imediações do moshav (colônia agrícola) Kfar Yona e saltou de paraquedas. As pessoas do moshav, pensando que se tratava de um inimigo começaram a disparar tiros em sua direção. Já em terra, Rubenfeld, que não sabia uma só palavra em hebraico, levantou os braços e para provar que era judeu, correu enquanto gritava em iídiche: “Shabes, shabes, guefilte fish!”.
O FIASCO DE OSLO
Há 30 anos, em setembro de 1993, o mundo assistiu ao aperto de mãos entre o chefe palestino Yasser Arafat e o então primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, sob as vistas do presidente Bill Clinton. O gesto mútuo selou o primeiro dos Acordos de Oslo com uma cerimônia na Casa Branca. As esperanças de paz para o conflito árabe-israelense, no entanto, não se concretizaram e até os dias atuais inexiste uma solução à vista. A criação de um estado palestino, previsto pelos acordos, foi erodida por sucessivos atos de violência e por recusas dos árabes-palestinos em face de propostas de paz apresentadas por Israel.
O tão celebrado aperto de mãos foi precedido por seis meses de negociações secretas que tiveram lugar em Oslo, capital da Noruega. O acordo inicial se resumia, a rigor, numa declaração de princípios que previa um acordo definitivo no prazo de cinco anos, mas sem especificar os pormenores de um eventual tratado definitivo. No decorrer dos estipulados 60 meses, Israel se retiraria gradualmente dos territórios ocupados após a vitória da Guerra dos Seis Dias, compreendendo a Cisjordânia, ou West Bank conforme é referida na mídia, e a Faixa de Gaza. Essas áreas passariam, então, ao controle de uma entidade chamada Autoridade Nacional Palestina, com sede na cidade de Ramallah.
Segundo o estudioso Yossi Beilin, ex-vice-chanceler de Israel e um dos negociadores dos acordos, frequentes atos de violência retaliados por Israel se impuseram e, desde logo, se constituíram em obstáculo para a obtenção da paz.
Yitzhak Rabin havia estado à frente dos destinos de Israel desde que tinha ocupado a chefia do Estado-Maior, no conflito de 1967, e, poucos anos depois, a liderança do governo. Suas posições eram intransigentes quanto à segurança de Israel. No entanto, estava convencido de que a nação precisava alcançar a paz com seus vizinhos. Julgava que a rejeição do mundo árabe a Israel era consequência da situação referente aos palestinos. Acreditava que Israel comprometeria sua condição de Estado Judeu e democrático se tomasse posse definitiva de territórios não configurados na resolução da partilha da Palestina Britânica. Mas, também acreditava que havia um limite para tudo aquilo que Israel poderia oferecer aos palestinos sem comprometer sua estabilidade. Estava seguro de que a paz resultaria num governo autônomo a ser exercido pela Autoridade Palestina, sendo mantida a reunificação de Jerusalém.
No dia 4 de novembro de 1995, Rabin foi assassinado durante um comício, no centro de Tel Aviv, por um extremista judeu contrário às negociações.
Alguns especialistas em assuntos do Oriente Médio especulam que se Yigal Amir não tivesse assassinado Rabin, Israel e os palestinos talvez pudessem ter chegado a um real entendimento. Para isso, porém, seria necessário um adendo aos Acordos de Oslo que resolvesse dois capítulos primordiais: a questão dos refugiados e a aceitação de Jerusalém como capital de Israel.
O retorno dos refugiados árabes às suas origens tem sido uma pré-condição dos palestinos para uma consistente negociação de paz, mesmo sabendo que o pretendido retorno é inviável. Na verdade, a morte de Rabin também ensejou a morte dos Acordos de Oslo, embora Rabin tivesse apresentado ao parlamento o esboço de um segundo tratado, pouco antes de seu assassinato. Houve, entretanto, algo como uma sobrevida quando os primeiros-ministros Ehud Barak e Ehud Olmert propuseram concessões visando à paz muito mais generosas do que aquelas que Rabin desejava oferecer.
Bill Clinton escreve em suas memórias que deu trabalho convencer Rabin a apertar a mão de Arafat. Quanto ao hábito levantino de dois beijos na face, Rabin afirmou que jamais o faria, como de fato não fez. Shimon Peres costumava dizer com humor: “Cada vez que Yitzhak tinha que se encontrar com Arafat, dava a impressão de que estava indo ao dentista”.
Zevi Ghivelder é escritor e jornalista.