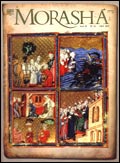Um artigo publicado na edição 31 da Revista Morashá, intitulado “O trem das crianças”, motivou alguns leitores a relatarem através de cartas as suas experiências neste episódio da história. Esta carta de autoria da Sra. Inge Marion Rosenthal foi enviada para a Sra. Bianca Gordon, membro da Associação dos judeus refugiados e relata a vivência de uma das crianças do trem.
Quando abri a carta enviada da Inglaterra e vi o recorte de jornal sobre a comemoração do 50º aniversário do Kindertransport, foram passando imagens pela minha cabeça como se fosse um filme sendo rebobinado. Eu voltava no tempo rapidamente e, quando as cenas pararam de se movimentar, as imagens surgiram nítidas.
Diante dos meus olhos, como se fosse hoje, vejo meu pai me levando à estação de trem, na Alemanha. Minha mãe, incapaz de suportar o último adeus, permaneceu mais afastada. Mais tarde eu soube que apenas um familiar tinha permissão para acompanhar a criança até o trem.
Estávamos em Berlim, em março de 1939; eu tinha então 15 anos. Ao lado da expectativa por causa da viagem, havia a tristeza por deixar meus pais, os amigos íntimos e pelo medo de abandonar o conforto e a segurança que normalmente reinam entre as quatro paredes de um lar. Em outras palavras, a sensação de ver desmoronar tudo o que compõe a vida cotidiana; além de sentir o desespero dos meus pais, aos quais jamais vi novamente.
“Leibesvisitation”, uma palavra dura ouvida antes do embarque no navio em Hamburgo, era a última impressão que levávamos de uma Alemanha que planejava, então, a destruição de todos os que amávamos e que estávamos deixando para trás. Uma Alemanha que nos negou o que era nosso: nosso patrimônio hereditário.
Durante a viagem, havia muita expectativa quanto ao desembarque. Para muitos, era a primeira viagem fora da Alemanha. Ao chegarmos em Southampton e embarcarmos no trem para Londres, inúmeras mulheres distribuíam caixas com doces e sanduíches para todas as crianças. Foi assim que terminou a minha infância.
Quando chegamos na estação de Waterloo, as crianças sentaram-se em bancos de madeira. Acho que, para muitas, foi a primeira vez que um intenso sentimento de perda as invadiu. As menores choravam amargamente procurando e chamando por suas mães.
Cada um dos passageiros do Kindertransport era chamado pelo nome e encaminhado para aquele que seria o seu padrinho, aquele que salvara essa criança da morte. Lado a lado caminharam, a criança levando consigo o desejo de encontrar um bom relacionamento familiar.
Naquele dia, minha madrinha me cumprimentou sem querer interferir ou se impor. Caminhamos, ambas inseguras, com destino a um subúrbio de Londres. O que um adulto falaria com uma criança tímida e amedrontada pelas circunstâncias? Eu até que tinha mais sorte do que muitas outras, pois a minha guardiã falava um pouco de alemão.
Eu sempre serei grata ao casal escocês que salvou a minha vida. Em 1939, quando quase todas as portas do mundo estavam fechadas para os judeus, esta ainda estava aberta para mim. No entanto, não se pode dizer que havia muito apoio psicológico e compreensão com as crianças recém-chegadas que, de uma hora para outra, tinham que enfrentar, sozinhas, um mundo novo.
A primeira decepção que enfrentei foi quando percebi que não havia vaga na escola para mim. Fizeram-me sentir culpada, pois era mais velha do que o esperado. Em pouco tempo, eu estava em uma creche sendo treinada para trabalhar como pajem de crianças. Ninguém me ensinou a lavar roupas e, a cada manhã, eu as esfregava até que meus dedos estivessem em carne viva. Meus colegas me acusavam de roubar comida, e estávamos sempre com fome. Às vezes eu pensava que, se meu inglês fosse melhor, talvez tivesse conseguido acalmar as crianças na hora do descanso.
Em setembro de 1939, a Segunda Guerra Mundial eclodiu, a creche fechou e as crianças foram evacuadas, terminando assim a minha carreira como babá. Voltei para a minha família adotiva, que pensou ter encontrado uma ajudante. O uniforme e a disciplina quase militar me lembravam a Alemanha. Eu continuava, no entanto, solitária.
Sonhadora, tinha uma grande paixão: a leitura. Vinte e cinco anos depois, ainda me lembro de quantas vezes fui pega lendo os livros, ao invés de espaná-los. Eu não tinha grandes expectativas, além de conseguir dar alguma escapada para Londres para rever velhos amigos e parentes.
Três anos mais tarde, consegui romper com a minha família adotiva. Apesar de pouco eficiente, eu era uma ajudante barata, por isso a ruptura não foi fácil. Morei em vários lugares. O escritório alemão-austríaco de comércio exterior ajudou-me a encontrar um emprego. Comecei a trabalhar em uma fábrica de lentes e, até hoje, lembro-me da satisfação ao receber o meu primeiro salário. Eu adorava o trabalho e os colegas londrinos, dois dos quais eram também refugiados judeus.
Nós três decidimos, então, que a óptica seria o nosso futuro e nos inscrevemos na North-Western Polytechnic, pois, naquela época, para se tornar oculista era preciso fazer um curso de três anos ministrado aos domingos. Mas como eu não tinha concluído meus estudos, três noites por semana fazia um outro curso para cumprir os pré-requisitos.
Trabalhava durante o dia e estudava à noite e, portanto, não tinha uma vida social muito intensa. Tornei-me membro da Associação Britânica de Óptica. Ao terminar o curso, consegui emprego como oculista em uma empresa tradicional da Rua Regent e, apesar do meu sucesso profissional, minha vida social não se modificou muito. Isto me levou a pensar na possibilidade de tentar a sorte no Novo Mundo.
Em 1947, parti para os Estados Unidos, onde durante dois anos trabalhei em um consultório oftalmológico. Foi lá que conheci um jovem fazendeiro do Brasil com o qual me casei. De origem alemã, ele possuía uma fazenda de café no interior do Paraná, para a qual nos mudamos.
A Plantação Paraná era uma companhia britânica que comprava terras do governo brasileiro por um bom preço e, em contrapartida, deveria construir uma ferrovia ligando São Paulo ao interior do Estado. Durante os anos 30, a Companhia comprou o material necessário na Alemanha. Para obter recursos, vendia terras aos que precisavam fugir dos alemães.
Entre os primeiros refugiados judeus alemães lá assentados havia médicos, advogados, comerciantes, banqueiros, exceto fazendeiros. Com raras exceções, não possuíam dinheiro ou conhecimentos agrícolas. Viviam do que plantavam e, quando tinham algum gado, conseguiam produzir leite e manteiga. Em pequenas clareiras, cercadas por florestas, construíram casas simples de madeira rodeadas por canteiros de flores.
Com o decorrer dos anos, a floresta foi cedendo espaço às plantações de café. Como os imigrantes-lavradores não tinham dinheiro, os grandes proprietários faziam com eles contratos de cinco a seis anos. Estes eram responsáveis pelo corte e queimada da madeira, limpeza da área e plantio do café. Entre as fileiras dos cafezais, podiam plantar feijão, milho e arroz para seu consumo. Foi um período de muita luta pela sobrevivência e, freqüentemente, a geada destruía a colheita.
Cheguei ao Brasil com meu marido em 1949 e jamais me considerei uma estrangeira. A fazenda estava localizada a cerca de vinte quilômetros da pequena cidade de Rolândia, mas não tínhamos carro. A estrada era precária e os cavalos eram o melhor meio de transporte. Não havia energia elétrica, água encanada, telefone nem rádio. Mas me adaptei e apeguei a esse estilo de vida. Finalmente, me sentia em casa.
Vizinhos e amigos tornavam a vida agradável e sempre que necessário conseguíamos ajuda. Criamos quatro lindos filhos e a nossa estabilidade econômica veio com o tempo. Atualmente usufruímos de todo o conforto da vida moderna.
Meu marido faleceu em 1973. Enfrentei outras perdas, mas sou uma avó orgulhosa de cinco netos. Assumi a fazenda e estou pronta a transferi-la para meu filho. Não se trata mais de uma plantação de café, apenas, pois plantamos também soja, milho, cana-de-açúcar e trigo com novas tecnologias.
Vim de muito longe e percorri um longo caminho desde a minha infância em Berlim. Passei a maior parte da minha vida no Brasil e sou muito grata ao que este país me deu. Não poderia esperar por nada a mais, nem desejar nada melhor.
Uma Criança do Kindertransport
Um número recente desta revista, li um artigo que me remeteu a uma experiência pessoal, vivida há cerca de três anos.
Fui aluna de Língua Portuguesa da Prof.a. Norma Goldstein, na USP, e, com o passar do tempo, ela se tornou minha amiga. Numa sexta-feira, recebi um telefonema dela. Queria contar-me sobre a rea-lização de um congresso, dedicado a estudos de textos medievais em português, organizado pela área de Filologia e Língua Portuguesa da USP, de cuja comissão organiza-dora ela fazia parte. Havia convidados de vários países. Os colegas brasileiros procuravam mostrar-lhes a cidade e levá-los a lugares de seu interesse. Minha amiga indagou do interesse de cada um e, sabendo que a participante da Inglaterra era judia, perguntou se ela gostaria de ir, naquela noite, a um serviço religioso numa sinagoga paulista. “Sim, eu gostaria muito”, foi a resposta.
Era essa a razão do telefonema...
“Ariella, sei que você costuma ir à sinagoga, gostaria que hoje fosse e fizesse isso em companhia de uma de nossas convidadas. Ela está hospedada num flat pertinho da sua casa, você poderia?”
Concordei imediatamente e marcamos o horário do encontro.
Na hora marcada cheguei ao flat; encontrei a professora inglesa esperando por mim na recepção. Olhos claros, cabelos brancos, altura mediana, magra e rápida. Disse seu nome, nós nos cumprimentamos com um aperto de mão e saímos caminhando pela Avenida Rebouças, em direção à sinagoga da CIP. A calçada era cheia de gente, os pontos de ônibus lotados, era difícil avançar, com certa rapidez, sem nos perdermos uma da outra..... Eu lhe perguntei se podia segurá-la pela mão, para facilitar... Poderíamos ter ido de táxi, mas, desde criança, tenho o hábito de ir a pé à sinagoga; e a distância era relativamente curta.
Assim, de mãos dadas, chegamos até a Rua Antônio Carlos.
Nessa época, quem era sócio da CIP entrava direto, mostrando a carteirinha, enquanto os não sócios faziam uma fila para identificar-se. Eu tinha minha carteirinha na mão e, para agilizar, coloquei na dela a carteirinha de minha sogra dizendo, “Vamos fazer de conta que você é minha irmã.” E assim entramos diretamente, sem fila.
Quando passamos diante da mesa onde costumam ficar os livros de reza, peguei dois, virei-me para entregar um deles a minha companheira e vi que os olhos dela estavam vermelhos e úmidos....
Sentamos, ela ficou longo tempo segurando o livro fechado à sua frente e bem depois começou a observar o que tinha em volta.
Terminada a função, desejei-lhe “Shabat Shalom,” e ela desejou o mesmo para mim.
Saímos, a rua já estava escura, fizemos outro caminho para retornar, mais longo, mas menos lotado e sem pontos de ônibus. A calçada era irregular, nossa convidada tropeçou e, para que ela não se machucasse, sem perguntar tratei de dar-lhe o braço, como fazia com a minha mãe, e assim fomos caminhando... Comentei sobre a escuridão, os buracos nas calçadas, ela falava pouco. Ao chegar de volta ao flat onde estava hospedada, disse não saber o que dizer para agradecer... Disse também que nunca, na vida dela, tinha tido a oportunidade de entrar numa sinagoga, não tinha com quem ir... Ninguém, até então, a tinha tratado como irmã.
Estava emocionada e, eu também, me emocionei. Abracei-a e desejei-lhe boa viagem, pois na manhã seguinte ela retornaria à Inglaterra.
Após alguns dias, a minha amiga Norma me ligou novamente. A visitante tinha enviado carta de agradecimento pela acolhida dos colegas brasileiros e pelo “anjo enviado a ela naquela sexta-feira”.
Fiquei sabendo então que minha “irmã” era uma daquelas crianças judias alemãs, adotadas por famílias protestantes da Inglaterra em 1939.
Foi justamente sobre essas crianças, que foi publicado um artigo na MORASHÁ n.º 31.