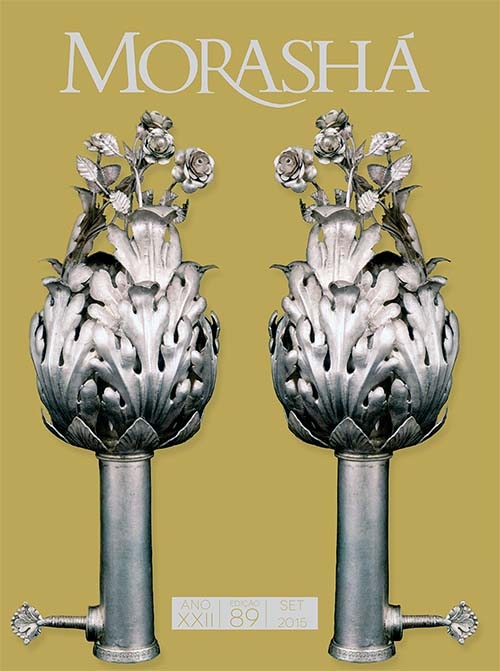No dia 30 de janeiro de 1933, Franklin Delano Roosevelt completou 51 anos de idade. Em menos de um mês seria eleito presidente dos Estados Unidos. No mesmo dia, Adolf Hitler tornou-se o chanceler da Alemanha. Seis anos mais tarde, no oceano que separava estes dois homens, navegou um navio chamado St. Louis, abarrotado por refugiados.
O Führer alemão arquitetou e executou contra o Povo Judeu um genocídio alheio aos mais elementares valores e princípios da civilização ocidental. O presidente americano tratou-os com um comportamento ambíguo e até hoje controverso.
Naquele final dos anos 1930, os Estados Unidos estavam dispostos a aceitar exatamente 25.957 imigrantes oriundos da Alemanha. Mas, desse total, qual seria o número de judeus? Eleanor, a mulher de Roosevelt, era solidária com relação aos refugiados judeus. O presidente, porém, temia a reação da maioria da opinião pública americana, que não queria acolher “essa gente”, além do fato de boa parte dos funcionários do governo explicitarem seu antissemitismo. De qualquer maneira, a pergunta tinha duas respostas. A primeira dependia da emissão de vistos que deveriam ser concedidos pelos diplomatas americanos que serviam em Berlim e outras grandes cidades da Alemanha. A segunda dependia das diretivas do recém-implantado regime nazista, que impunha toda a sorte de dificuldades para os judeus que pretendiam emigrar, incluindo o confisco de seus bens e a cobrança de taxas exorbitantes, em moeda forte, para as permissões de saídas. Além disso, nenhum imigrante poderia partir com mais de 1 dólar no bolso.
No dia 3 de maio de 1939, o navio de passageiros St. Louis, pertencente à Hamburg-America Line, chegou à Alemanha, vindo dos Estados Unidos, comandado por Gustav Schroeder, um homem do mar, com 37 anos de experiência em viagens transatlânticas. Era uma pessoa correta que, no decorrer dos últimos seis anos, não aceitava filiar-se ao partido nazista embora sofresse frequentes pressões nesse sentido. Ele foi chamado para uma conversa com o diretor da companhia naval, de nome Holthusen, que começou a distrair-lhe com banalidades até chegar ao que de fato pretendia: “Você vai levar o St. Louis com cerca de mil passageiros, todos refugiados, para Cuba, o que é uma coisa formidável em face da crise financeira que o país está atravessando”. Schroeder indagou quem eram os viajantes e recebeu a seguinte resposta: “São apenas judeus que não querem mais viver na Alemanha, nada fora do comum. Mas este é um assunto sobre o qual lhe aconselho a não fazer muitas perguntas. Só posso adiantar que em Havana você será recebido por um dos nossos funcionários, chamado Robert Hofman, a quem entregará uma encomenda”. Schroeder deixou o escritório do diretor convicto de que este não lhe tinha passado as informações mais importantes.
Naquele mesmo dia, em Havana, o tal Hofman estava sendo vigiado por agentes americanos a serviço da Inteligência Naval Militar, do Departamento de Imigração dos Estados Unidos e do FBI, todos sob o comando do coronel Ross Rowell, da Inteligência Naval. No dia seguinte, em seu escritório na embaixada americana em Cuba, Rowell enviou um comunicado para Washington informando que uma agente nazista chegaria em breve a Havana, vinda do canal do Panamá, com a missão de encontrar-se com o dito alemão e entregar-lhe um pacote. Àquela altura, Rowell já possuía elementos sobre a rede de espionagem instalada pelo regime nazista em Cuba, compreendendo cerca de sessenta agentes que, na eventualidade de um conflito, já estariam perto da costa americana. Em um de seus relatórios oficiais, enfatizou: “O elemento de contato dos espiões chama-se Julius Otto Ott, que não logrei apurar se é suíço ou alemão, proprietário do restaurante Swiss Home”. Rowell só não sabia que o dito pacote continha papéis e microfilmes com informações pormenorizadas sobre locais a serem sabotados nos Estados Unidos caso estourasse uma guerra por iniciativa da Alemanha. O restante das informações secretas e complementares chegariam a Cuba no navio St. Louis e seriam entregues pelo comandante Gustav Schroeder.
No dia 13 de maio de 1939, o navio St. Louis acolheu em Hamburgo 936 homens, mulheres e crianças (há fontes que citam o número 937). Desse total, 930 eram judeus, em cujos passaportes estavam impressos em vermelho uma grande letra “J”, referência a Jude (judeu, no idioma alemão). Assustados desde os dramáticos acontecimentos da Noite dos Cristais, seis meses antes, além de frequentes medidas de caráter antissemita, aqueles judeus haviam decidido deixar a Alemanha para sempre. À custa de muito dinheiro e sacrifícios, tais como se despojarem de todos os seus bens e abdicarem de suas profissões e ocupações, tinham obtido vistos de entrada para um país distante chamado Cuba. Dali, julgavam, tomariam diferentes destinos, mas tendo como ponto final e preferencial os Estados Unidos. Com essa finalidade, 734 deles já tinham preenchido formulários exigidos pela imigração americana e poderiam entrar no país de três meses a três anos depois de aportarem em Cuba. De qualquer maneira ainda lhes restava uma sombria dúvida. Depois de terem pagado 262 dólares pela passagem (volumosa quantia naquela época), além do custo dos vistos, foram obrigados a desembolsar mais 181 dólares a título de uma espécie de seguro caso o governo de Cuba impedisse seu desembarque, embora os vistos contivessem a assinatura do coronel Manuel Benites, diretor do Departamento de Imigração de Cuba. Esses vistos lhes tinham sido entregues pela Hamburg Line,que os comprara por uma quantia ridícula do Coronel Benites e os havia revendido ao custo de 150 dólares por pessoa, contabilizando um lucro expressivo.
Dentre os passageiros do St. Louis encontravam-se judeus proeminentes. Um deles era o famoso advogado Max Loewe, que lutara pela Alemanha na 1ª Guerra Mundial, tendo sido condecorado por heroísmo. Ele estava com a mulher, a mãe, e dois filhos adolescentes. Viajava, também, o artista plástico Moritz Schoenberger, celebrizado pelos cartazes que concebera para os filmes alemães produzidos pela empresa UFA. O rabino Gelder, de 67 anos de idade, ansiava por encontrar na América seus dois filhos que já tinham emigrado. A senhora Feinchfeld, de Breslau, levava seus quatro filhos com idades de um a onze anos. O marido estava à espera de todos em Nova York.
Por ordem do comandante Schroeder, os passageiros não eram tratados como refugiados, mas como passageiros comuns, que haviam comprado suas passagens e, portanto, mereciam todas as atenções e cortesias por parte da tripulação, que incluía alguns ferrenhos a adeptos do nazismo. Mas, em função, dos regulamentos marítimos internacionais, estes não ousavam desrespeitar quaisquer ordens superiores. A viagem através do oceano Atlântico transcorreu na mais absoluta tranquilidade com os passageiros tendo acesso às chaises longues do convés e a excelentes refeições.
Antes que o navio chegasse a seu destino, o comandante começou a receber telegramas que aludiam à frágil validade dos vistos repassados pela empresa de navegação. Isto se deveu à ação de antissemitas cubanos instigados pelos agentes nazistas infiltrados no país. Logo essa informação correu entre os passageiros, que foram ficando ansiosos e deprimidos. Durante os jantares a bordo, os viajantes eram entretidos pelo comediante Max Schlesiger, de Viena, que, em face do ambiente reinante no navio, interrompeu suas apresentações.
Os menos preocupados, pelo menos na aparência, eram aqueles 734 que haviam preenchido os papéis americanos. Achavam que, mesmo se o St. Louis fosse obrigado a retornar à Europa, estariam sob a proteção das leis de imigração dos Estados Unidos. A atmosfera no navio ficou tão carregada que um de seus mais importantes passageiros, o professor Moritz Weller, sofreu um infarto e morreu. Os judeus insistiram em que seu corpo fosse acomodado no frigorífico da embarcação para que, uma vez em terra, tivesse um funeral judaico. Schroeder invocou as leis marítimas, segundo as quais um corpo inanimado deveria ser jogado ao mar. A revolta dos refugiados foi quase incontrolável. Schroeder, então, valeu-se de um argumento que não comportava contestação: a existência de um cadáver a bordo poderia concorrer para que as autoridades cubanas impedissem a atracação do navio. O corpo do professor foi jogado ao mar tendo o próprio Schroeder proferido um emocionado elogio fúnebre.
No dia 27 de maio o St. Louis chegou ao porto de Havana. Ninguém teve permissão para desembarcar, nem as pessoas que se encontravam no cais puderam subir ao navio. Os judeus que aguardavam familiares e amigos alugaram pequenos botes e margearam o transatlântico, na esperança de que, protegidos pela escuridão noturna, alguns se atirassem na água e nadassem ao seu encontro. Os cubanos, entretanto, instalaram poderosos holofotes em torno do navio e essa arriscada fuga tornou-se impossível.
Entretanto, 28 passageiros obtiveram permissão para desembarcar. Desconfiados dos vistos sob responsabilidade da Hamburg Line, eles haviam contratado advogados na Europa que lhes obtiveram documentos adicionais emitidos pelo Departamento do Tesouro e pelo Departamento do Trabalho do governo cubano. Outros seis que escaparam, foram um casal cubano que retornava de uma viagem de lua de mel na Europa e quatro turistas espanhóis. A bordo permaneceram 908 judeus. As autoridades cubanas alegaram que seus vistos tinham origem ilegal e assim careciam de validade. Além disso, argumentavam que Cuba, uma pequena ilha, já tinha recebido desde a segunda metade da década de 1930 milhares de imigrantes (2.500 dos quais eram judeus), muito mais, em proporção, do que países muito maiores e muito mais ricos. O drama do St. Louis chegou às páginas de todos os jornais do mundo, notadamente dos Estados Unidos, que ressaltavam o perigo com que se defrontavam os refugiados judeus caso fossem obrigados a retornar à Alemanha.
Apesar de atento à imprensa, o presidente Roosevelt nada fez para aliviar o sofrimento dos refugiados do St. Louis. Por essa razão, diversos segmentos da sociedade americana, judeus e não-judeus, até hoje acusam seu presidente de ter permanecido indiferente à sorte dos judeus europeus que viriam a ser assassinados no Holocausto.
No entanto, um livro lançado em novembro de 2014, da autoria de Richard Breitman e Allan J. Lichtman, isenta Roosevelt de tal comportamento. Os autores afirmam que os refugiados do St. Louis só conseguiram embarcar rumo a Cuba graças a importantes medidas tomadas pelo governo americano. Quando Roosevelt tomou conhecimento da ocorrência da Noite dos Cristais (novembro de 1938), ordenou que o Departamento de Estado entrasse em contato com diversos países latino-americanos, pedindo-lhes que dessem acolhida aos judeus perseguidos pelo nazismo. Roosevelt, inclusive, teve um encontro pessoal com o segundo homem do governo cubano, porém o mais influente, chamado Fulgencio Batista, que lhe prometeu total colaboração. Mas não foi de graça.
Por conta da sua aquiescência, Batista conseguiu que o governo americano diminuísse as tarifas referentes às operações comerciais do açúcar importado de Cuba, além de obter por parte de Washington ajuda militar e tecnológica. O fato de Batista não ter cumprido o acordo firmado com Roosevelt não chega a admirar em face do seu caráter pouco confiável. Tornado ditador de Cuba, anos mais tarde, ele acabou sendo deposto por Fidel Castro, em 1959.
Há um outro livro, intitulado Refugees and Rescue, de 2009, escrito por James McDonald, que foi assessor de Roosevelt para todos os assuntos referentes aos refugiados. O autor afirma que, já em abril de 1938, o presidente elaborou um plano segundo o qual os judeus perseguidos na Alemanha nazista seriam absorvidos por dez nações democráticas e até pediu ao Congresso um orçamento de 150 milhões de dólares a título de compensações para os países que os recebessem. Era uma quantia fabulosa e McDonald afirma que ouviu de Roosevelt o seguinte comentário: “Não se trata de dinheiro, trata-se de seres humanos”. O autor afirma que o plano do presidente teve de ser abandonado porque, em 1940, a prioridade dos Estados Unidos era a segurança nacional e não ações humanitárias.
Mas, a posição americana, vista pelo aspecto humano, não apagava a frustração dos refugiados do St. Louis que avistaram, nas proximidades da Flórida, embarcações da guarda-costeira americana e tiveram a esperança de que estas fariam algum tipo de intervenção em seu favor. No dia 29 de maio, a entidade beneficente americano-judaica Joint (Joint Distribution Committee) enviou dois representantes a Havana. Eram a assistente social Cecilia Razovsky e um famoso advogado de Nova York, Lawrence Berenson, presidente da Câmara de Comércio Cubano-Americana e amigo pessoal de Fulgencio Batista, àquela altura posicionado como chefe do Estado Maior do exército de Cuba. Cecília garantiu às autoridades locais que, se os judeus pudessem desembarcar, o Joint cuidaria de seus alojamentos e refeições até que pudessem partir para outros países. Em um encontro com Batista, o advogado Berenson comprometeu-se a fazer uma doação de 125 mil dólares ao governo cubano, como garantia de que os passageiros, uma vez em terra firme, não se tornariam dependentes da economia do país. De bordo do navio, Schroeder solicitou uma audiência com o presidente de Cuba, Laredi Bru, mas não foi atendido. No telegrama enviado ao chefe do governo, o comandante havia advertido, com todo o respeito, que se o St. Louis tivesse que retornar para a Europa, um número incerto de refugiados poderia optar pelo suicídio. Mas, Bru aceitou receber Berenson para uma conversa inútil: nenhum judeu tocaria o solo cubano. Disse que tinha simpatia pelos refugiados, mas não aceitava a intermediação dos vistos pela Hamburg Line porque aquele expediente atentava contra a dignidade de seu governo. Enquanto isso, o passageiro Max Loewe, cortou os pulsos, foi socorrido e levado para um hospital em Havana. Sua mulher e filhos não tiveram permissão para acompanhá-lo. Ele só reencontrou a família anos mais tarde, na França.
No dia 1º de junho, o presidente Bru assinou um decreto ordenando que o St. Louis levantasse âncora e navegasse até doze milhas além do porto de Havana, caso contrário seria conduzido à força pela marinha cubana. Era o tempo que Berenson, bastante otimista, precisava para orquestrar a entrega dos dólares prometidos. Em contato telefônico com a sede do Joint em Nova York, Berenson foi informado de que, segundo a avaliação do Departamento de Estado, aquelas pessoas que haviam preenchido formulários para a obtenção de vistos não se enquadravam nas leis americanas de acolhimento de imigrantes. Berenson ainda tentou oferecer mais dinheiro (500 mil dólares) ao governo cubano e acabou enredado numa disputa entre Bru, candidato a um novo mandato, e Batista, também candidato à presidência. Nos dias seguintes, Berenson sofreu as mais repugnantes chantagens e manobras escusas, inclusive ameaças físicas, das quais acabou se descartando e regressou para os Estados Unidos.
No dia 2 de junho o St. Louis partiu para Hamburgo, às onze horas da manhã. O comandante Schroeder, ciente de um novo encontro de Berenson com Bru, no dia 4, cuidou de ganhar tempo navegando na direção de Miami. Ali o navio passou a ser monitorado pela lancha da guarda-costeira americana de número 244, incumbida de impedir que algum passageiro se aventurasse a nadar até a costa. A imprensa americana continuou publicando reportagens sobre o drama do St. Louis. No jornal The Richmond Times Dispatch, o bispo James Cannon Jr. escreveu: “A indiferença com relação a esses judeus, que vivem um momento de extrema angústia, é uma desgraça para a história americana e cobre nossa nação com uma mancha de vergonha”.
No dia 6 de junho, às 23 horas e 40 minutos, sem receber qualquer notícia por parte de Berenson, o comandante Schroeder decidiu partir rumo a Hamburgo. Um comitê formado pelos refugiados enviou um telegrama ao presidente Roosevelt dizendo que dentre os 907 passageiros do navio mais de 400 eram mulheres e crianças. Não obtiveram resposta. Mandaram, então, outro telegrama para a sede do Joint: “Em grande desespero pedimos sua ajuda para desembarcar em Southampton ou receber asilo da benevolente e nobre França”.
Em Paris, o representante do Joint, Morris Troper, tinha acumulado uma série de telegramas recebidos do escritório central em Nova York. Estes diziam: “Imigração fechada na Colômbia”. “Nada de positivo no Chile”. “Situação política conturbada no Paraguai. Nada”. “Argentina receptiva, porém resultado incerto”. Troper entrou em contato com o ministro da justiça da Bélgica, que, após consultar o primeiro-ministro, deu sinal verde para o desembarque de 200 refugiados. Em seguida, falou com a responsável pelo comitê de refugiados da Holanda. A Rainha Guilhermina permitiu, então, o acolhimento de 194 passageiros. O representante do Joint estabeleceu contatos com as autoridades da Grã Bretanha, Portugal e Luxemburgo. Não lhe disseram que sim, mas também não lhe disseram que não, razão pela qual enviou um telegrama para Schroeder: “Talvez tenha boas notícias em 36 horas”.
O comandante seguiu curso para Hamburgo, porém, de propósito, da forma mais lenta possível. Em Paris, Troper encontrou-se com Louise Weiss, secretária do Comitê Central de Refugiados, que, por sua vez, recorreu ao ministro das relações exteriores da França. Enquanto esses conluios se desdobravam, Troper recebeu um telegrama informando que a Grã Bretanha aceitava receber 250 refugiados. Isto fez com que os franceses concordassem com igual número. No fim das contas, 214 judeus ficaram na Bélgica, 181 na Holanda e 224 na França.
Às vésperas de receber os 250 destinados à Inglaterra, o Subsecretário britânico do Interior declarou, numa entrevista coletiva: “Estamos dando um exemplo, mas não estamos abrindo um precedente. Não há mais lugar para refugiados em nosso país”.
Os judeus restantes no St. Louis se viram obrigados a descer em Hamburgo, no dia 20 de junho, e enfrentar os mais incertos destinos. A passageira Gerda Blachmann, nascida em Breslau, foi para o interior da Alemanha, se disfarçou como camponesa, junto com a mãe. Ambas conseguiram atravessar a fronteira para a Suíça. Ali trabalharam como operárias numa fábrica de tecidos e emigraram para os Estados Unidos em 1949. A viúva polonesa Klara Gottfried Reif, um filho e uma filha encontraram refúgio em Paris até a normalidade de suas vidas ser devastada pela invasão nazista. Eles deixaram a capital francesa e se esconderam na pequena cidade de Limoges. Um ano depois, seus parentes que moravam nos Estados Unidos tiveram a sorte de resgatá-los e levá-los via Portugal para Nova York, onde Liane, filha de Klara, completou seu doutorado em química.
No dia 1º de setembro de 1939 eclodiu a 2ª Guerra Mundial. Por este motivo, só ficaram a salvo os judeus acolhidos na Inglaterra. Os outros, após as invasões nazistas nos países que os tinham abrigado, acabaram sendo deportados junto com as demais populações judaicas para campos de concentração, onde a maioria encontrou a morte em câmaras de gás. Dez anos depois do fim do conflito, o comandante Gustav Schroeder recebeu uma condecoração do governo da Alemanha Ocidental por sua corajosa e impecável conduta. Ele morreu em janeiro de 1959, aos 74 anos de idade.
O último país a negar ajuda ao St. Louis foi o Canadá. Por isso, em janeiro de 2011, foi inaugurado no Museu Marítimo da cidade costeira de Halifax, na província da Nova Escócia, um memorial em homenagem aos refugiados daquele navio, criado pelo arquiteto israelense David Libeskind. O memorial, uma grande instalação à feição de um tambor e contendo dezenas de fotografias, recebeu o significativo nome de Roda da Consciência. Dentre as centenas de pessoas presentes à solenidade, encontrava-se um prestigioso médico canadense chamado Sol Messinger, então com 74 anos. Aos sete anos de idade, Messinger fora passageiro do St. Louis e descera na Bélgica junto com os pais. Em setembro, eles embarcaram num trem oriundo de Antuérpia rumo à França.
O comboio foi bombardeado por aviões alemães e Messinger nunca mais se esqueceu do peso de sua mãe sobre ele, para livrá-lo dos explosivos. A família conseguiu chegar ao sul da França, de onde partiu para o outro lado do Atlântico, pouco depois de parte dos judeus de Vichy terem sido conduzidos para campos de concentração. Em Halifax, o doutor Messinger declarou aos jornalistas: “Que brilhante simbolismo! Neste mesmo porto de Halifax, que fechou as portas para os judeus do St. Louis, ficará para sempre um monumento em sua memória”.
É pouco provável que o comandante Schroeder tenha entregado os documentos secretos para o espião nazista sediado em Havana, porque em nenhum momento pisou o solo de Cuba e ninguém obteve permissão para subir a bordo. Ross Rowell foi um dos mais destacados pilotos da marinha militar americana durante a guerra, tendo sido promovido a general e recebido uma série de condecorações por bravura. Morreu em 1947.
É preciso acentuar que todos os acontecimentos referentes à malograda viagem do St. Louis se desenrolaram durante três meses e dezessete dias antes do início da 2a Guerra Mundial. A perspectiva histórica evidencia que o St. Louis foi o prenúncio do Holocausto.
Bibliografia
Thomas, Gordon e Morgan-Witts, Max, “Voyage of the Damned”, editora Coronet Books, EUA, 1976.v
Zevi Ghivelder é escritor e jornalista