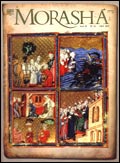A vida dos judeus nos Estados Unidos, desde as primeiras imigrações, foi marcada pela tolerância religiosa, ainda que sem o mesmo reconhecimento a seus direitos civis. Apesar de entremeada por episódios de anti-semitismo, diferencia-se bastante do ciclo de violência e perseguições do Velho Mundo.
A descoberta da América, em 1492, no mesmo ano em que os reis católicos Fernando e Isabel expulsaram os judeus da Espanha, pode ser considerada uma das coincidências históricas que marcaram de forma definitiva a trajetória do povo judeu no mundo. Coincidência maior, ou não, o édito de expulsão foi anunciado no mesmo dia em que Cristóvão Colombo recebeu autorização para equipar sua frota e preparar a viagem, financiada em parte pelas fortunas de judeus forçados à conversão. Historiadores afirmam, inclusive, que muitos conversos - ou marranos, como se tornaram conhecidos - integraram a tripulação de Colombo.
O chamado Novo Mundo, ao longo de décadas, tornou-se um refúgio e uma alternativa atraente para centenas de judeus que preferiam enfrentar oceanos revoltos, tempestades em alto mar, selvas e aborígenes desconhecidos, para escapar da Inquisição. Entretanto, a presença espanhola e, posteriormente portuguesa, no novo continente, logo mostrou aos exilados que os braços dos inquisidores eram mais longos e ameaçadores do que os mares. Os judeus e os marranos, no entanto, encontraram um oásis de tolerância na colônia holandesa de Recife onde viveram tranquilamente até 1654, quando a região foi reconquistada pelos portugueses que, juntamente com suas tropas e armas, trouxeram consigo os tribunais do Santo Ofício.
Este fato acabou sendo um dos principais responsáveis pelo início da imigração judaica para o que viria a ser os Estados Unidos. Apesar de haver relatos anteriores sobre a chegada de judeus ao Hemisfério Norte, a imigração de maior significado histórico começou em 1654, quando 24 judeus fugitivos de Recife - a maioria de origem sefaradita - embarcaram no St. Charles e navegaram rumo ao norte, deixando para trás as águas azuis do Caribe, em direção ao cinzento Atlântico. No início de setembro daquele ano, sua busca foi recompensada quando chegaram à Ilha de Manhattan, aportando na colônia holandesa de Nova Amsterdã, um entreposto comercial da Companhia das Índias Ocidentais no Novo Mundo.
Apesar da resistência do governador calvinista da colônia, Peter Stuyvesant, que se opunha à permanência dos fugitivos, pressões feitas pelas autoridades da Companhia das Índias Ocidentais - na qual havia judeus influentes - decidiram que eles poderiam ficar, salientando “que não deveriam tornar-se uma carga para a Companhia”, ou seja, deveriam ser responsáveis pelo seu próprio sustento ou contar com a ajuda de outros judeus já ali assentados. Entre estes estava o comerciante Jacob Barsimson, um jovem ashquenazita oriundo da Europa Central, que havia chegado da Holanda três semanas antes, e alguns outros.
Assim estabeleceu-se o núcleo que deu origem à primeira comunidade judaica da América do Norte. Em março de 1655, mais cinco famílias e três homens solteiros chegaram à Nova Amsterdã diretamente da Holanda. Em melhor situação econômica do que os foragidos de Recife, vieram ao Novo Mundo dispostos a organizar uma comunidade e oficiar os serviços religiosos em hebraico, de acordo com as tradições judaicas. Trabalhando como açougueiros, ferreiros, importadores ou vendedores ambulantes, lutavam unidos para garantir sua sobrevivência na nova terra.
Desde o início, preocuparam-se em criar mecanismos para garantir assistência aos carentes e aos órfãos, além de providenciar um cemitério para serem enterrados de acordo com suas leis religiosas. Naquela época, no entanto, a Companhia das Índias Ocidentais e o governo colonial enfatizaram que, apesar de autorizarem a permanência e a entrada de mais judeus na região e permitirem que continuassem seguindo sua religião, estes não poderiam construir sinagogas.
Assim começaram organizando ofícios em casas e salas alugadas. A conquista das colônias holandesas no Novo Mundo pela Grã-Bretanha não alterou muito a situação dos judeus. Segundo o Tratado de Breda, de 1667, a Grã-Bretanha garantia a liberdade religiosa, de propriedade individual e comercial para todos os habitantes da antiga Nova Holanda. Os judeus também foram beneficiados com esses direitos, mas ainda estavam sob a proibição de construir sinagogas, tendo que pagar impostos para a Igreja Anglicana. Essas restrições, no entanto, foram abolidas poucas décadas mais tarde.
Afinal, para uma comunidade protestante historicamente preocupada com o catolicismo romano, uma centena de judeus dificilmente representaria uma ameaça. Já no início do século XVIII, os judeus oravam em Nova York, antiga Nova Amsterdã, na sede alugada para a Congregação Sherit Israel, que ganhou instalações próprias em 1818, anos após a Declaração de Independência dos Estados Unidos.
Ainda em meados do século XVII, outro grupo de judeus chegou à colônia de Massachusetts, tendo uma recepção completamente diferente da que haviam tido os foragidos de Recife. Implantada por um grupo de puritanos, os membros desta colônia – eles mesmos refugiados da Alta Igreja Anglicana – tinham admiração pelos judeus. Mesmo sem lhes dar total igualdade de direitos, permitiram-lhes construir suas casas e seguir sua religião.
Esta é, de modo geral, a principal característica da política oficial britânica em relação aos judeus no Novo Mundo. Às vezes com maior ou menor tolerância, com mais ou menos direitos, se comparada com a dos judeus no Velho Mundo - ou seja, na Europa - a situação das comunidades judaicas na colônia podia ser considerada segura. Diferentemente do que ocorria na Europa, onde a parceria entre a Igreja e o Estado dominava a sociedade, nenhum grupo religioso era preponderante nas colônias, apesar de cada uma possuir um grupo em posição dominante.
Mas a dinâmica natural do processo de colonização inicial estava tão enfronhada nas populações que, na prática, se não na lei, o judaísmo também passou a ser visto como apenas mais um dos inúmeros grupos que lutavam para sobreviver no Novo Mundo. A batalha pela igualdade civil, no entanto, foi mais longa e, às vésperas da Guerra da Independência dos Estados Unidos, os judeus não podiam, ainda, trabalhar em instituições públicas e nem votar. Mas, a exemplo do que ocorria na Europa, os judeus da América Colonial dedicavam-se principalmente ao comércio, atividade marcante entre as colônias e também com o exterior.
Graças à sua experiência, cultura e contatos além-mar, os judeus desempenharam um papel no comércio marítimo inversamente desproporcional à população judaica local. Entre os que se destacaram neste período estão Jacob Franks, de Nova York, magnata na área de navegação que foi fornecedor da Coroa durante a Guerra com a França; Moses Lindo, de Charleston, um pioneiro na exportação de corante azul; e Joseph Simon Lancaster, um dos maiores proprietários de terras na Pensilvânia.
Segundo historiadores, apesar de os judeus conseguirem estabelecer-se e prosperar no Novo Mundo, durante 150 anos após a primeira imigração, encontravam certos obstáculos para manter sua herança judaica. Desde os anos iniciais, a vida comunitária estava centrada na sinagoga. Por livre e espontânea vontade os judeus procuravam viver próximos uns dos outros em bairros mais isolados, para estar perto de sua casa de orações e para poderem formar os minianim. Às vésperas da Declaração de Independência, já havia várias congregações em cidades litorâneas além de Nova York, entre as quais, Filadélfia, Charleston, Savannah e outros portos coloniais. Em Newport, Rhode Island, estava localizada não apenas a mais rica comunidade do continente, mas a mais bonita das sinagogas.
Tais sinagogas eram mais do que locais de oração, mas, como acontecia na Europa, eram também o centro para educação, filantropia e atividades sociais. De fato, essas pequenas sinagogas, com seus currículos de hebraico e Torá, eram responsáveis pela única educação que as crianças judias recebiam então na América. Segundo historiadores, a sinagoga foi a principal responsável pela manutenção e união dos judeus durante os primeiros anos da história judaico-americana.
Logo após a independência dos Estados Unidos, em 1776, os judeus americanos entenderam que sua liberdade civil e religiosa estava assegurada. O presidente George Washington, ao receber as congratulações de várias congregações judaicas, disse que “todos os habitantes de cada segmento étnico que compunha o país estavam totalmente sob a proteção da nova república americana”. Este princípio é tão marcante na formação da sociedade americana que até consta da Declaração de Independência, na qual se afirma que “todos os homens são criados iguais” - e, não, “todos os protestantes” ou “todos os cristãos”.
O Ato de Liberdade Religiosa, de Thomas Jefferson, aprovado pela Assembléia da Virgínia em 1785, afirmava que “nenhum homem deve ser forçado a freqüentar ou apoiar qualquer serviço religioso, lugar ou líder religioso que seja...”. Este princípio foi incluído integralmente na Constituição Federal, que também ressaltava que “nenhum teste religioso deve ser feito como requisito para qualquer cargo público ou de confiança nos Estados Unidos”. Em 1791, a Primeira Emenda renovou o compromisso com a liberdade religiosa, afirmando que o “Congresso não deve aprovar nenhuma lei relativa à implantação de religião ou que proíba o livre exercício de qualquer crença....”.
A Constituição Federal, apesar de pronunciar-se claramente sobre a liberdade religiosa, deixou para a decisão estadual a questão do direito de voto. Nem todos os Estados do novo país desejavam conceder aos judeus esse direito. Este processo foi mais demorado.
Antes da independência, aproximadamente três mil judeus viviam nos Estados Unidos, sendo que 50% eram ashquenazitas, em meio a uma população total de aproximadamente três milhões. Em 1795, em torno de 40 mil judeus viviam em Nova York. De 1830 a 1860, cerca de 200 mil novos imigrantes judeus chegaram à região, oriundos da Europa Central. Este fluxo, juntamente com o crescimento natural demográfico, elevou a população judaica total da América para 300 mil, em 1870. Os judeus alemães foram os principais responsáveis para o crescimento daquela que viria a se tornar a maior comunidade na história judaica.
A vida dos judeus alemães na América foi caracterizada por algo mais do que o sentido de comunidade. Foi caracterizada pela liberdade. Os judeus na América eram livres, profundamente livres e mais livres do que já haviam sido em qualquer outro lugar da terra. Este fato está diretamente ligado aos princípios que moldaram os Estados Unidos desde os tempos coloniais, nos quais o racionalismo não deixava muito espaço para o feudalismo medieval tradicional do Velho Mundo. Trata-se de um país que foi criado por grupos perseguidos, que lutaram para garantir constitucionalmente o reconhecimento de seus direitos, apesar de sérios episódios de anti-semitismo ao longo de sua história.
Sherit Israel, marco do judaísmo em Nova York
Sherit Israel foi a primeira congregação judaica da América do Norte, tendo sido fundada em 1654 por um grupo de judeus que havia fugido de Recife. Até 1730 funcionou em imóveis alugados, ano em que foi construída a sua primeira sinagoga em sede própria, então instalada na Rua Mill, atual Rua South William. O prédio mais recente foi construído em 1897, sendo a quinta sinagoga construída pela congregação. Seu estilo é semelhante ao das congregações portuguesas e espanholas da época.
De 1654 a 1825, Sherit Israel foi a única comunidade judaica de Nova York e, durante décadas, todos os judeus da cidade - sefaraditas e ashquenazitas - eram seus membros, muitos dos quais tiveram participação importante no desenvolvimento da região, participando, inclusive da fundação da Universidade de Colúmbia. A cada ano, durante o Memorial Day, um serviço religioso especial é realizado em homenagem aos que lutaram pela independência.
Desde o seu surgimento, a instituição preocupou-se em atender todas as necessidades da comunidade judaica, desde o nascimento até a morte. Era responsável pela educação laica e religiosa e pelo fornecimento de alimentos casher durante Pessach, entre outras atividades.
Ao longo de sua história, a Sherit Israel esteve envolvida na criação de inúmeras instituições que se tornaram marcos de referência em Nova York, entre os quais, os hospitais Monte Sinai e Montefiore, a Escola Lexington para Surdos, a União Americana das Congregações Judaicas Ortodoxas; o Seminário Teológico Judaico e o Programa de Estudos Sefaraditas da Yeshivah University.
Ainda ativa, a Sherit Israel inclui inúmeras associações, entre as quais a Liga Sherit Israel, a Irmandade, um Clube para Homens e o Dor Chadash, um grupo para pais, além de promover um programa de educação para adultos, serviços religiosos de Shabat e atividades para solteiros. Segundo seus membros, é uma instituição antiga sempre voltada para o futuro.