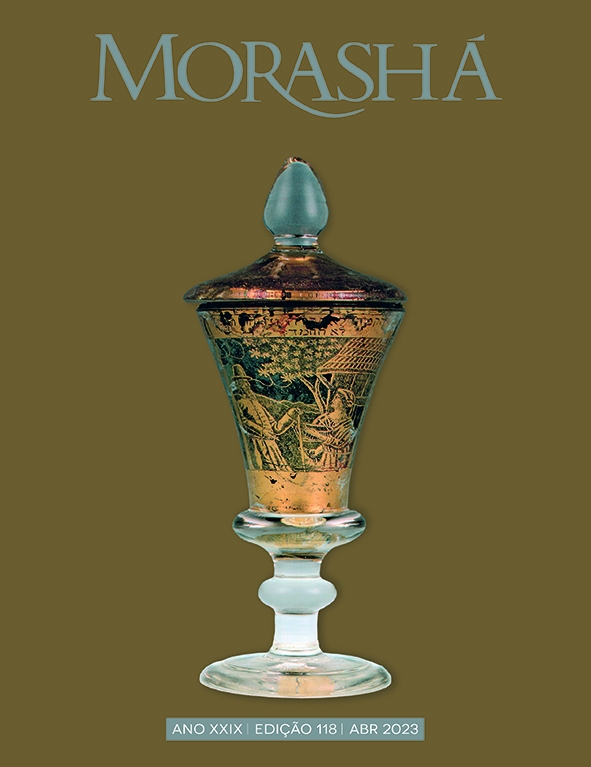Diz a lenda que quando Jack Warner era jovem, propuseram-lhe comprar um cinema, isso ainda no tempo dos filmes mudos. Indeciso, pediu o conselho da mãe. A sábia senhora, judia imigrante, foi concisa: “se o freguês paga antes de ver a mercadoria, pode comprar que é bom negócio”.
Na primeira década do século 20, dentre as centenas de milhares de imigrantes judeus que aportaram nos Estados Unidos, alguns jovens mais ousados ficaram fascinados com a indústria do cinema, que ainda estava nos seus primórdios. Isto se deu na mesma época da vitória dos bolcheviques, na Revolução Russa, e o consequente afluxo de milhares de fugitivos em direção àAmérica. Muitos deles ainda cultivavam ideais socialistas e plantaram a semente do futuro Partido Comunista americano. A maior parte dos recém-chegados era constituída por judeus seduzidos pelas novas ideias políticas irradiadas a partir da nascente União Soviética, fator que contribuiu para inquietar os conservadores americanos e deu um impulso para incrementar o antissemitismo no país. Isto não acontecia somente no campo político, mas também no campo social, porque apontava grande visibilidade em função da quantidade de judeus envolvidos nas múltiplas áreas da crescente produção cinematográfica, o novo tipo de entretenimento que cativava legiões de fiéis espectadores.
No topo dessa pirâmide feita de celuloide reinavam os donos dos estúdios, judeus em sua absoluta maioria. Eram empreendedores que, no âmbito do cinema, ainda mudo, se valiam de intuições excepcionais para detectar as predileções dos públicos de todas as classes sociais. Conta-se que na chamada “épocado ouro” de Hollywood, com início na década de 1930 e começando a declinar no fim da década de 1950, Harry Cohn, dono do estúdio Columbia, cultivava uma forma peculiar de julgar o potencial da bilheteria dos filmes que produzia: “Se eu começar a me mexer na cadeira é porque o filme não presta; se eu ficar o tempo todo parado é porque o filme é bom, simples assim”. Essa intuição acabava se refletindo nos próprios filmes realizados pelos grandes estúdios. A Metro, por exemplo, tinha predileção por filmes musicais, românticos e mais focados no público feminino. A Warner priorizava enredos voltados para questões sociais junto com temas sombrios que contivessem crimes e violência, porque eram os preferidos da classe trabalhadora com predominância masculina.
Os produtores cinematográficos haviam se instalado no estado da Califórnia, num subúrbio de Los Angeles chamado Hollywood, porque era uma localidade onde vastos terrenos podiam ser adquiridos com vantajosas condições e onde o sol era generoso quase o ano inteiro. A ascensão econômica dos produtores judeus conferiu-lhes posição de relevo na sociedade americana, ao mesmo tempo em que atraiu preconceitos, intolerâncias e atitudes inamistosas das elites conservadoras e também de boa parte das autoridades dos poderes do país. Apesar disso, os homens atrás das câmeras eram vistos na esfera popular como magos insuperáveis, por causa dos ídolos do cinema que haviam criado, atores e atrizes adorados por multidões.
A ascensão desses produtores se estendia junto a investidores e financiadores, desde a Costa Leste até a Costa Oeste, com seu centro artístico e tecnológico em acelerada evolução. A certa altura, eles perceberam que não era lucrativo depender de terceiros para expandir suas atividades. Passaram, então, a fazer a distribuição de seus filmes e a exibi-los em salas próprias ou associados a donos de cinemas, igualmente judeus, em grande maioria.
Toda essa exuberância judaica fez com que um reverendo chamado Wilbur Fiske Crafts enviasse agressivas correspondências ao Congresso, em Washington, e à Arquidiocese da Igreja Católica, clamando que a indústria do cinema devia ser resgatada das mãos dos demônios, ou seja, denão-cristãos. Na mesma ocasião, Henry Ford, reverenciado magnata da indústria automobilística e um antissemita sem reservas, publicou dois artigos no Dearbron Independent, jornal de sua propriedade. Os títulos das matérias, datadas de fevereiro de 1921, eram tanto sugestivos quanto tóxicos: “O aspecto judaico no cinema” e “A supremacia judaica no cinema”. Nos dois textos, Ford reiterava seu ponto de vista, escrevendo que o controle cinematográfico exercido pelos judeus originava um sério problema social. Ao cabo de meses, Ford reuniu todos os seus artigos do mesmo teor num livro intitulado “O Judeu Internacional”, no qual afirmava que a perniciosidade judaica produzia filmes que incitavam à violência, glamorizavam o sexo e corrompiam a juventude americana. A tiragem do livro superou dois milhões de exemplares e teve alguns de seus trechos reproduzidos anos mais tarde no livro Mein Kampf (Minha Luta), de Adolf Hitler.
Em 1922, sentindo-se acuados e cientes da necessidade de formalizar suas atividades, os produtores fundaram uma entidade chamada Associação dos Produtores e Distribuidores de Cinema, que existe até hoje. Convidaram para a presidência um homem público de prestígio, um republicano presbiteriano chamado Will Hays. Mesmo assim, a pressão antijudaica continuou. Habilidoso, Hays obteve o engajamento de personalidades influentes da Igreja Católica e de juristas protestantes proeminentes. Juntos criaram, com sucesso e aprovação das autoridades, o Código de Produção do Cinema. Anos depois, o historiador especializado Francis Couvares registrou que a indústria cinematográfica americana tinha passado a ser gerida por banqueiros protestantes, operada por executivos judeus dos estúdios e policiada por burocratas católicos, todos reivindicando a primazia de estarem na defesa dos princípios fundamentais da nação americana.
Na verdade, aqueles judeus que haviam emigrado da Europa Oriental, oriundos de famílias pobres, realmente estavam empenhados em se inserir nos princípios fundamentais de sua nova pátria. Todos partilhavam o desejo de se assimilar, com ressalva para uma forma singular, segundo a qual não renunciariam às suas raízes judaicas, porém não mais se comportariam como judeus observantes, buscando legitimar, sem culpa, o inusitado caminho da assimilação que se propunham a percorrer.
Estavam convencidos de que, para frequentar os altos círculos da sociedade americana, seu Judaísmo deveria ser relegado e somente seria praticado através de doações muitas vezes anônimas a instituições judaicas necessitadas. Foram pilares na construção de duas sinagogas em Los Angeles que não frequentaram, mas permaneceram como seus mantenedores, por anos a fio. Em matéria de devoção religiosa, apenas se abstinham, por ocasião do sagrado Yom Kipur (Dia do Perdão), de comparecer àscorridas de cavalos no elegante hipódromo Santa Anita.
A obsessão por ser apenas americano em vez de judeu tem como protagonista David O. Selznick, que produziu para a Metro o filme E o Vento Levou, talvez o mais famoso de todos os tempos. Em 1946, ele foi procurado por Ben Hecht, famoso escritor, autor teatral e roteirista mais disputado pela indústria do cinema. Hecht havia se engajado no ativismo sionista direcionado para a Irgun, organização clandestina que combatia os mandatários ingleses na antiga Palestina. Hecht pediu a Selznick que fizesse uma doação de 5 mil dólares para a Irgun. Este recusou, dizendo que era um cidadão americano desvinculado de quaisquer causas judaicas. Hecht, então, propôs: “Telefone para cinco pessoas de sua escolha e pergunte se você é americano ou judeu. Se disserem americano, eu lhe darei 5 mil dólares. Se disserem judeu, você fará a doação”. Os cinco telefonemas resultaram numa resposta unânime: “Claro que você é judeu”. Hecht foi embora depois de guardar o cheque recebido.
Posturas como a de Selznick e de outros figurões de Hollywood se situavam muito distantes de suas próprias origens e condutas, sendo sobretudo alheias aos legados de seus pais. Dedicaram-se a exibir em seus filmes uma nação ungida pelo celebrado sonho americano, que se concretizava em imagens de gente forte e decidida, famílias estáveis, pessoas atraentes, jovens engenhosos, homens e mulheres honestos. A Hollywood da primeira metade do século 20 levou para o mundo a imagem de um bem-sucedido país capitalista, generoso e acolhedor, que a rigor ocultava um paradoxo: os judeus que haviam criado essa sociedade ideal nela não eram aceitos porque o antissemitismo era persistente e imbatível.
O sofisticado Los Angeles Country Club impedia que judeus fossem sócios e isso incluía os milionários e poderosos donos dos estúdios. Como resposta, os judeus de Hollywood fundaram o Hillcrest Country Club, maior e mais bonito do que o clube que os havia rejeitado. Imbuídos de uma intenção de afronta, construíram mansões espetaculares com piscinas, tornaram-se filantropos de causas sociais, colecionadores de obras de arte, se filiaram e encheram com robustas doações os cofres do Partido Republicano. Mas, a partir dos anos 1930,nãohesitaram em bajular o presidente Franklin D. Roosevelt, do Partido Democrata.
Por causa do conflito entre cidadania e religiosidade que os próprios grandes chefões se infligiram, nenhum deles se atreveu a realizar um filme que contivesse um tema sobre judeus. Visto hoje em perspectiva histórica, chega a ser inacreditável que o estúdio Warner tivesse como a primeira realização do cinema falado o filme The Jazz Singer (O Cantor de Jazz)em1927, cujo enredo chegava a abordar aspectos da ortodoxia judaica. O papel principal coube ao cantor judeu Al Jolson, então a maior atração do teatro musical da Broadway. A sensacional inovação se devia a um sistema chamado Vitaphone,que acabou com o cinema mudo. A única arte até hoje para sempre desaparecia no mundo.
O filme conta a história de um rapaz judeu, filho de um cantor da sinagoga que, contra a vontade do pai, decide se dedicar aos palcos e fazer carreira como intérprete de canções populares. Depois de algumas pinceladas românticas, o filme se encaminha para um final lacrimoso: enquanto o pai doente agoniza, o filho abandona a estreia de um grandioso espetáculo na Broadway no qual seria o astro e vai para a sinagoga no dia do Yom Kipur, onde canta a reza principal, intitulada Kol Nidre, ocupando o lugar do pai.
Era impossível supor que um filme com raízes judaicas tão intrínsecas alcançasse o sucesso avassalador que alcançou junto à imensa plateia americana. É admissível que o carisma de Jolson tenha contribuído para tamanho êxito, como também é óbvio que o cinema com som atraísse a curiosidade dos espectadores. Também era difícil supor que o jornal The New York Times criticasse o filme com apaixonada exaltação. O jornal acentua que, no final da exibição, houve uma ovação inédita para os padrões de Nova York, como se o público pedisse um bis impossível, a par de transbordantes elogios para a interpretação vocal de Al Jolson.
Passaram-se 20 anos até que Hollywood tomasse coragem para retomar uma temática judaica. No primeiro semestre de 1947, o estúdio RKO, de médio porte, pertencente ao judeu David Sarnoff (fundador e proprietário da poderosa rede de televisão NBC), lançou o filme Crossfire (Rancor). O enredo tratava de um crime ocorrido num quartel do exército americano, do qual foi acusado um soldado judeu, em flagrante ação de antissemitismo. No mesmo ano, o grande estúdio 20th Century Fox, cujo dono Darryl F. Zanuck, quenãoera judeu, produziu a películaGentlemen’s Agreement (A Luz é Para Todos), um extraordinário sucesso que repercutiu na mídia de todo o país. Dirigido por Elia Kazan, consagrado diretor de teatro na Broadway, o filme acompanha a trajetória de um repórter que, para investigar a extensão do antissemitismo nos Estados Unidos, tendo em conta que o país havia sido vitorioso no combate ao nazismo, se faz passar por judeu com o nome de Philip Green. Numa cena emblemática, ele é impedido de se registrar num hotel quando a gerência avalia que seu sobrenome poderia incluir origem judaica. Na época, um crítico escreveu: “O filme nos impacta e emociona com uma fábula urbana de grande maturidade”.
Se a temática judaica era ignorada pelos estúdios de Hollywood, o Sionismo chegava a ser repelido, a ponto de a partilha da Palestina sob Mandato Britânico, um assunto mobilizador ocorrido em 1947, que contou com decisiva participação dos Estados Unidos, sequer sugerir um esboço de roteiro numa Hollywood em que chegava perto de 40% a participação de judeus nas mais diversas etapas da realização de um filme.
Em 1949, o estúdio Universal, comandado pelo judeu Carl Laemle, lançou sem grande alarde o filme Swords in the Desert (Adagas no Deserto),no qual, pela primeira vez, apareceu numa tela de cinema a luta sionista para alcançar a soberania na antiga Palestina. O filme ressaltava aspectos da imigração clandestina que desafiava a proibição dos mandatários ingleses. O produto foi censurado na Inglaterra, sob a alegação de que os militares britânicos eram mostrados de forma inadequada como executores de violências que, supostamente,não haviam praticado.
Em 1953, o produtor judeu Stanley Kramer rodou em Israel o filme The Juggler (O Malabarista), tendo como personagem central um sobrevivente do Holocausto, mentalmente perturbado por causa dos traumas sofridos no campo de concentração. Sem conotação panfletária, o filme dava a entender que Israel era o único abrigo plausível para pessoas afetadas por problemas semelhantes. O papel principal coube a Kirk Douglas (nome verdadeiro Issur Danielovich), que, dois anos depois, foi o protagonista de Cast a Giant Shadow (À Sombra de um Gigante), a história verdadeira do coronel do exército americano David Marcus, que se voluntariou para lutar na Guerra da Independência de Israel, tendo sido morto por um tiro acidental, disparado por um rapaz judeu na função improvisada de sentinela.
Depois desses filmes pioneiros, se seguiram muitos outros focados em Israel que nem sempre agradaram às plateias judaicas. Essa circunstância era inevitável. Todas as realizações de Hollywood sempre tinham como prioridades os desempenhos nas bilheterias e a primazia do entretenimento. Se judeus eventualmente discordassem do que assistiam nas telas, este não era um fator suficiente para que os estúdios renunciassem a seus consolidados e consagrados padrões.
Dentre os filmes que focalizam Israel, dois se destacam por sua magnitude e importância: Exodus, de 1960, e Munique, de 2005. O primeiro, dirigido por Otto Preminger e produzido pelo estúdio Fox, é baseado no livro do mesmo nome, um romance com 500 páginas, escrito por Leon Uris e que se tornou um dos maiores fenômenos do mundo editorial americano. O volume ficou durante nove meses em primeiro lugar na lista de bestsellers do jornal The New York Times, tendo vendido em média 2.500 exemplares por dia. O romance chega a seu auge quando encena o drama do navio “Exodus”: seus milhares de passageiros sobreviventes do Holocaustosãoimpedidos pelos ingleses de desembarcar no porto de Haifa.
O filme, no entanto, vai além desse terrível episódio. Mistura ficção com realidade para assinalar os conflitos que convulsionavam a antiga Palestina um ano antes da criação do Estado de Israel. O autor se permite uma série de liberdades criativas, construindo como irmãos dois personagens à semelhança de Ben-Gurion e Menachem Begin. A ação do romance do filme se desenvolve, portanto, no sentido de justificar as iniciativas violentas da Irgun com uma espetacular recriação do bem-sucedido ataque à fortaleza de Akko, que resultou na libertação de prisioneiros judeus ali confinados pelas autoridades britânicas.
O personagem central do romance é um combatente da ilegal organização judaica paramilitar Haganah, chamado Ari Ben Canaan. Seu perfil é descrito de maneira tão forte e intensa que Ben Canaan está para Exodus assim como Jean Valjean está para Os Miseráveis.
Já o filme Munique enfoca a ação do Mossad, serviço secreto de Israel, para executar os terroristas palestinos responsáveis pela morte de onze atletas israelenses nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972. Produzido pela empresa de Steven Spielberg e dirigido pelo próprio, o filme se propôs a provocar uma reflexão sobre a ética e a moral de Israel na determinação de fazer justiça com as próprias mãos. O filme faz concessões ao gosto do público, com previsíveis cenas de mistérios e espionagens, e tem como figura central um agente-chefe do Mossad, que atende pelo pseudônimo Avner e a respeito do qual é impossível saber onde começa a realidade e termina a ficção, ou vice-versa.
É incontável o número de judeus queparticiparam da criação de Hollywood e foram, ao longo de anos, os artífices de sua torrencial expansão. Os grandes estúdios deixaram de existir desde o fim da década de 1960, mas seus fundadores são icônicos até os dias atuais. Os nomes a seguir correm o risco de omissões, mas, no conjunto, a fama de alguns chefões judeus dos anos dourados de Hollywood se mantém inabalável:
O alemão Carl Laemle (1867-1930) nasceu na cidade de Lupheim, onde sua família vivia em extrema pobreza. Emigrou sozinho para os Estados Unidos em 1884, começando a trabalhar como comerciante de roupas até se deslumbrar, em Nova York, com um nickleodeon, como eram chamados os cinemas que exibiam filmes mudos. Começou a produzir em 1912 e fez sucesso levando para a tela obras célebres como O Corcunda de Notre Dame e O Fantasma da Ópera. Em 1934, no mesmo ano em que fundou o estúdio Universal Pictures, resgatou de sua cidade natal dezenas de judeus perseguidos pelo nazismo.
Louis B. Mayer (1882-1957) nasceu na Ucrânia com o nome de Lazar Meir e, ainda criança, emigrou com a família para New Brunswick, no Canadá, radicando-se depois em Boston. Com 20 anos, comprou um pequeno teatro na cidade de Haverhill, Massachusets, onde apresentava números musicais para imigrantes italianos ali residentes em grande quantidade. Expandiu sua atividade teatral e,jácom apreciável capital, fundou em 1924 o estúdio Metro Goldwyn Mayer, que se tornaria o mais famoso e prestigioso da indústria cinematográfica. O estrondoso sucesso do estúdio, consolidado a partir dos anos 1930, deveu-se a um rapaz judeu, Irving Thalberg, a quem contratou para gerir seus filmes, apresentados em cinemas próprios. Thalberg morreu em 1936, com apenas 38 anos de idade. Mayer então se associou ao produtor David O. Selznick e, dessa união, resultou o magnânimo filme E o Vento Levou,com quatro horas de duração, em 1939. Por causa de seu temperamento que oscilava entre a avareza e a generosidade, a bondade e a crueldade, o bom e o mau humor, Mayer colecionou grande quantidade de amigos e inimigos, tornando-se o mais legendário chefão de Hollywood. Foi ele quem formulou o chamado esquema star system, pelo qual o estúdio controlava de forma implacável a vida pessoal e a carreira profissional de seus contratados, sempre por sete anos, ostentando os maiores nomes do cinema. Em seu auge, nos anos 1940, a Metro deu trabalho a seis mil funcionários e seus geradores de energia dariam para iluminar uma cidade com 25 mil habitantes. Na extensão dos galpões que abrigavam os estúdios, a Metro comprou para locações um terreno monumental em Culver City, que tanto servia para cenas e florestas como de pradarias, além de possuir um grande lago onde miniaturas de embarcações que, depois de filmadas, apareciam nas telas grandes com todo seu esplendor.
Jack L. Warner (1892-1978) nasceu como Jacob Wonsal, numa pequena aldeia tipicamente judaica, localizada no Império Russo. Depois de os judeus ali sofrerem um pogrom (matança), o sapateiro Benjamin, pai de Jacob, emigrou com a família paraa América e tão logo se instalou em Nova York adotou o nome de Benjamin Warner. E Jacob, um de seus quatro filhos, se tornou Jack Leonard. Os irmãos trabalharam como balconistas no comércio e operários na indústria até juntarem o dinheiro necessário para se radicar em Los Angeles, onde fundaram o estúdio Warner Brothers. Em 1918 obtiveram sucesso com My Four Years in Germany (sem exibição registrada no Brasil), que denunciava atrocidades cometidas por soldados alemães durante a 1ª Guerra Mundial. Em 1923, por sugestão do roteirista Darryl F. Zanuck, que viria a ser o dono do estúdio Fox, aceitaram um roteiro que girava em torno de um cão pastor alemão, ao qual foi dado o nome de Rin Tin Tin. Foi como se tivessem descoberto uma mina de ouro. O público americano se apaixonou pelo cão, objeto de roteiros que Zanuck escreveu durante dois anos. A segunda mina de ouro aconteceu quando acreditaram no sistema Vitaphone e lançaram o primeiro filme falado, The Jazz Singer. Em 1939, a Warner produziu o filme Confessions of a German Spy (Confissões de uma Mente Perigosa), baseado numa história verdadeira que lhes foi passada por Edgar J. Hoover, diretor do FBI.
A Embaixada da Alemanha em Washington endereçou um ofício ao Departamento de Estado com protesto sobre o conteúdo do filme, acentuando que o chanceler Adolf Hitler o tinha assistido com grande revolta. Àquela altura, os Estados Unidos ainda eram neutros no conflito na Europa e um crítico americano escreveu: “Os irmãos Warner declararam guerra à Alemanha”. O prestígio do estúdio cresceu quando o Oscar de 1943 coube ao filme Casablanca, até hoje apontado como um dos mais significativos da história do cinema. Porém, este e outros sucessos não contribuíram para apaziguar a atribulada relação entre Jack e seus irmãos Sam, Harry e Albert. Ao cabo de brigas judiciais, Jack assumiu sozinho o controle da Warner Brothers, o que lhe gerou ácida antipatia no mundo cinematográfico de Hollywood. Em 1974, sofreu um derrame que afetou sua visão e,vítima de um infarto, morreu aos 86 anos de idade. Seu serviço fúnebre teve lugar no Wilshire Boulevard Temple, sinagoga para cuja construção ele tinha sido o maior doador.
Bibliografia
Gabler, Neal. An Empire of Their Own: How the Jews Invented Hollywood. Anchor Books, EUA, 1989.
Carr, Steven. Hollywood and Antisemitism. Cambridge University Press, UK, 2001.
Zevi Ghivelder é escritor e jornalista.