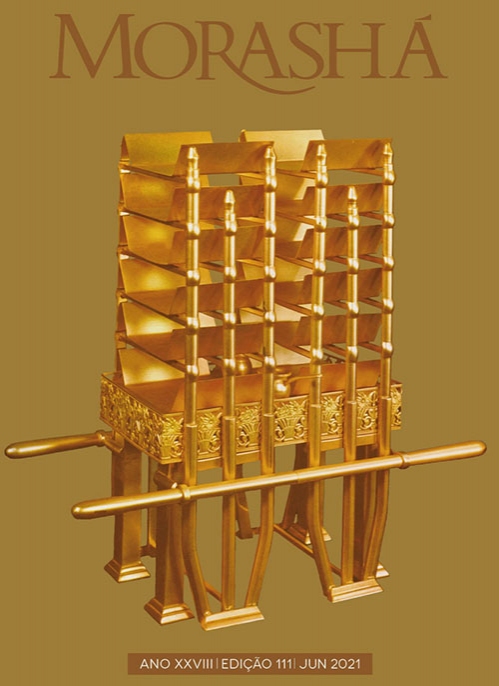Muitas são as provas de que a democracia israelense não admite segregação racial. Nomes como Salim Joubran, que foi juiz da Suprema Corte de Israel, e Mansour Abbas, membro da Knesset que recentemente foi alçado à integrante da coalizão que pode iniciar um novo governo, ajudam a desmantelar o argumento do apartheid, tantas vezes usado por grupos que desejam colocar em xeque o direito de Israel existir.
Em 1991, estive em Israel pela primeira vez. Meus pais, meu irmão e eu nos mudamos para o país em setembro, após o fim da Guerra do Golfo. Eu era criança, porém me lembro de certa vez estar em um escritório do Ministério do Interior com minha família, onde brinquei com a bengala de um senhor árabe muito simpático que aguardava sua vez nas cadeiras do salão principal. Em algum momento, escutei gritos do lado de fora. Um israelense gritava por algum motivo, que pode ou não estar relacionado com o fato de o senhor árabe estar dentro do recinto. De repente, o israelense quebrou o vidro que separava esse salão e a calçada. Em três minutos, ele foi preso e levado pela polícia. Por diferentes razões, não permaneci em Israel e, em 2003, retornei a Israel, dessa vez como estudante do Ensino Médio. Era o auge da Segunda Intifada, quando os atentados suicidas ocorriam quase que semanalmente em bares, restaurantes, ônibus e locais públicos. Lembro-me bem que toda vez que ia entrar em locais públicos, estações de ônibus ou trem, passava por controle de raio X, detectores de metal e perguntas dos seguranças.
Em 2006, voltei como cidadão do país. Morei em Israel por 10 anos. Nesse tempo, aprendi hebraico fluente, servi à Inteligência da Força Aérea por dois anos e me tornei um israelense. Os controles de segurança sempre estiveram presentes para todos, sem exceção. Em determinados casos, os seguranças eram árabes, beduínos ou drusos, de religião islâmica ou cristã.
Esses três episódios em que contei experiências pessoais, servem para concluir o óbvio. Israel se preocupa com a segurança de seus cidadãos e utiliza formas preventivas e ferramentas de tecnologia conhecidas no mundo todo para proteção contra ações violentas. Quem revista ou quem é revistado não está baseado em etnia, raça ou religião. Diga-se de passagem, quem revista, quando está de folga, também é revistado. A acusação de que Israel comete o crime de apartheid é mais uma forma de tentar deslegitimar o país. A lógica é clara: Quanto mais crimes contra a humanidade forem atribuídos a Israel, mais pessoas começarão a condenar a existência do país e questionar sua legitimidade, pressionando governos a mudarem suas posições, isolando Israel e, consequentemente, enfraquecendo-o. Apesar das acusações e protestos e da campanha global por boicote, Israel possui um crescimento considerável em sua economia, foi reconhecido por mais quatro nações árabes e está longe de estar isolado como nação. Em outras palavras, mesmo que haja acusações vindas de diversas frentes, a verdade fala por si, e países e populações inteiras não podem ser enganados o tempo todo.
Uma vez estando clara essa situação e frisando-se o caráter democrático e igualitário de todos os cidadãos de Israel perante a Lei, independente de religião, raça, sexo, cor ou etnia, devemos também endereçar a situação na Judeia e Samaria (Cisjordânia).
Desde que Israel conquistou a região em 1967 em uma guerra defensiva de agressão, o controle militar israelense é justificado pela Lei Internacional. A construção de assentamentos neste território, onde israelenses podem viver, é motivo de disputa judicial e as opiniões de juristas variam, de lado a lado. Para justificar a construção destes assentamentos, na década de 1970, os israelenses encontraram uma brecha em uma lei otomana, que dizia que um território mais distante que três quilômetros do centro de um vilarejo, que não estivesse sendo utilizado pelo proprietário ou não tivesse dono, poderia ser usado pelo império. Essa lei deu uma base jurídica argumentativa para que israelenses pudessem justificar na Suprema Corte de Israel, que, a partir de 1967, o “império” era Israel.
A partir desse momento, começou a construção de comunidades israelenses na Cisjordânia. Como a Jordânia ocupou a região entre 1949 e 1967 e, exceto a Inglaterra e o Paquistão, nenhum outro país do mundo reconheceu a soberania da Jordânia na Cisjordânia, Israel considera o território, ainda hoje, como em disputa, e não ocupado, pois uma ocupação se dá apenas em territórios de outra nação soberana, algo que não existia na Cisjordânia quando a mesma foi conquistada por Israel. Portanto, a situação legal da região é muito complexa, e não há consenso entre juristas.
Os Acordos de Oslo 1, em 1993, quando o então primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, apertou a mão de Yasser Arafat, deram início à criação de um governo autônomo palestino. Em outras palavras, Israel não iria mais governar os palestinos e um governo criado e administrado por eles assumiria tal responsabilidade. Após os Acordos de Oslo 2, em 1995, a região foi dividida em três partes, A, B e C, sendo a Zona ‘A’ de controle total dos palestinos, onde estão localizadas as principais cidades palestinas e 95% da população; zona ‘B’, de controle civil da Autoridade Palestina e controle de segurança parcial dos palestinos em cooperação com Israel e, por fim, a zona ‘C’, equivalente a cerca de 50% do território da Cisjordânia, onde estão todos os assentamentos israelenses, os quais somam apenas 2% do território, bem como as fronteiras da região com Israel e a fronteira com a Jordânia.
Quando o acordo foi firmado, em 1995, não havia muitas restrições de segurança. Porém, com a crescente onda de atentados na década de 1990 e com a Segunda Intifada, entre 2000 e 2005, Israel se viu obrigado a implementar mais de 500 checkpoints e a construir uma barreira de segurança entre a Cisjordânia e Israel, para impedir atentados e movimentação de armas entre cidades palestinas. Essas implantações são baseadas em uma necessidade de segurança, e não em uma política segregacionista. Muitos soldados que cuidavam desses checkpoints eram árabes drusos ou árabes cristãos e até mesmo árabes muçulmanos – com esse último exemplo apenas, a acusação de apartheid cai por terra.
Em outras palavras, para que um sistema de apartheid se estabeleça, a discriminação precisa ser fundamentada em motivos raciais, étnicos e ser praticada contra a população do mesmo país. O caso de Israel na Cisjordânia não se encaixa em nenhuma das três possibilidades.
As implementações de segurança de Israel na Cisjordânia, de fato, afetam os palestinos, que tiveram suas vidas parcialmente alteradas pelas decisões de grupos terroristas ou do próprio governo palestino e sua inabilidade em conter a violência. De 2005 para cá, entretanto, o número de checkpoints caiu 90% e centenas de milhares de palestinos entram diariamente da Cisjordânia em Israel para trabalhar. Ou seja, não há qualquer discriminação e, sim, uma questão de segurança nacional para evitar atentados; uma vez que eles diminuíram, os postos de checagem diminuíram também.
Por último, vale ressaltar e contextualizar mais um argumento usado por aqueles que acusam Israel de apartheid. Dizem que existem estradas apenas para judeus e outras apenas para palestinos dentro da Cisjordânia. Na verdade, não é bem assim: existem estradas onde ocorreram diversos atentados, nos últimos vinte anos, e, novamente, por causa da segurança, nessas estradas, que não são muitas, e estão na parte C da Cisjordânia, e são controladas por Israel, os palestinos não podem circular com seus carros, mas apenas os israelenses. Vale ressaltar que todos os israelenses podem usar essa estrada, isso inclui judeus, árabes, drusos, beduínos etc. Ou seja, a decisão não é baseada em etnia ou raça ou cor, mas em nacionalidade e cidadania, uma vez que por motivos de segurança, foram impostas limitações de trânsito.
Além de todos os fatos técnicos explicados acima, vale salientar que Mansour Abbas, líder do partido Raam, braço político do movimento islâmico do sul de Israel, não apenas é um membro pleno do parlamento israelense, mas acaba de assinar um acordo com Yair Lapid para compor a coalizão do novo governo. É a primeira vez na história de Israel que um partido árabe israelense participa de forma ativa na formação de um governo. Abbas tem-se encontrado com todas as lideranças do país, de esquerda à direita, religiosos e laicos. Isso sugere uma lição para as democracias do mundo todo, de que diferenças ideológicas podem ser colocadas de lado, almejando o bem geral do país. Case Closed.
André Lajst, 35, brasileiro e israelense é cientista político, mestre em Contraterrorismo pela Universidade IDC Herzlyia, doutorando em Ciências Políticas e Sociais pela Universidade de Córdoba, na Espanha, e diretor executivo da StandWithUs Brasil
OBJETIVANDO DESLEGITIMAR O DIREITO DE EXISTÊNCIA DE UM ESTADO JUDEU, HÁ QUEM ACUSE O ESTADO DE ISRAEL DE PRATICAR O APARTHEID. VALE REVISITAR O QUE FOI O APARTHEID NA ÁFRICA DO SUL.
Palavra africâner que literalmente significa “separação”, o termo Apartheid é usado para descrever o sistema político e econômico discriminatório de segregação racial que vigorava na África do Sul, que a minoria branca - que representava menos de 20% da população - impôs aos não-brancos do país. O apartheidfoi implementado pelo Partido Nacional da África do Sul, de 1948 a 1994.
A segregação por raça existia na África do Sul desde 1806. Mas foi muito ampliada com a Lei de Registro da População, de 1950, que dividiu os sul-africanos em quatro categorias: bantus (negros), mestiços, brancos e asiáticos (indianos e paquistaneses). A lei foi projetada visando a preservar a supremacia branca no país.
Os efeitos do apartheid afetaram todos os aspectos da vida diária na África do Sul. Foram proibidos o casamento e as relações sexuais entre sul-africanos brancos e não brancos. Mesmo casamento interraciais realizados em outros países eram “ilegais”. Mais de 80% das terras do país foram reservadas para a minoria branca, que representava menos de 20% da população do país. Homens e mulheres negros foram forçados a viver nas chamadas “pátrias negras”. Para viver e trabalhar em “áreas brancas” designadas, exigiam-se licenças para os não brancos. A participação destes no governo, no sistema judicial e nos sindicatos era proibida. Hospitais, ambulâncias, ônibus e instalações públicas eram segregados e os destinados à população não branca eram de qualidade inferior. Um negro não podia ser tratado em um hospital para brancos, assim como um médico negro não podia tratar um paciente banco.
As leis do apartheid concederam a entidades públicas e privadas o direito de separar ou reservar para uso exclusivo dos brancos “quaisquer locais públicos” - incluindo banheiros, bancos, parques, praias, salões de igrejas, prefeituras, cinemas, teatros, cafés, restaurantes, hotéis, escolas e universidades - ou “qualquer veículo público” - táxis, ônibus, bondes, trens e ambulâncias. Havia bancos de praça onde apenas brancos podiam se sentar e até as entradas dos metrôs eram segregadas. Os sinais do apartheid eram comuns em todas as cidades da África do Sul.
Os não brancos não podiam frequentar as mesmas escolas que a população branca do país. A educação na África do Sul foi segregada pela Lei de Educação Bantu de 1953, que elaborou um sistema separado de educação para estudantes negros sul-africanos, projetado para preparar os negros para a vida como uma classe trabalhadora. Em 1959, também foram criadas universidades separadas para negros, mestiços e indianos. As universidades existentes foram proibidas de aceitar novos alunos negros.
Foi terrível o impacto do apartheid na população não branca da África do Sul. As famílias eram frequentemente separadas pelas próprias leis raciais. Se os pais fossem negros e brancos, seus filhos eram classificados como “de cor” e, entre 1961 e 1994, 3,5 milhões de pessoas foram removidas à força de suas casas. Suas terras foram vendidas por uma fração de seu preço, mergulhando os não brancos em extrema pobreza e desespero. Os sul-africanos que desobedecessem às leis do apartheid podiam ser multados, presos, encarcerados ou chicoteados, enquanto os suspeitos de ter um “relacionamento racialmente misto” eram perseguidos e aprisionados.
Para ajudar a impor a segregação das raças e evitar que os negros “invadissem” as áreas brancas, o governo sul-africano fortaleceu as chamadas Leis de Passe, que exigiam que os não brancos portassem documentos autorizando sua presença em áreas restritas. Outras leis proibiam a maioria dos contatos sociais entre as raças. Além disso, o apartheid restringia certos tipos de empregos às diferentes raças, e restringia a formação de sindicatos de trabalhadores não brancos e, como vimos acima, negava a participação destes no governo nacional. Se homens ou mulheres negros fossem encontrados sem seus “dompas” - um passaporte contendo impressões digitais, fotografia, detalhes pessoais de emprego e permissão do governo para estar em áreas do país restritas aos brancos - poderiam ser presos. Mais de 250.000 sul-africanos negros eram presos anualmente devido às Leis de Passe. Milhares de pessoas morreram presas, após terem sido submetidas a atos horríveis de tortura. Os que eram levados a julgamento eram condenados à morte, banidos ou condenados à prisão perpétua.
Mais informações sobre as leis do apartheidpodem ser encontradas no site: South African History Online - Apartheid Legislation 1850s-1970s. https://www.sahistory.org.za/article/apartheid-legislation-1850s-1970s