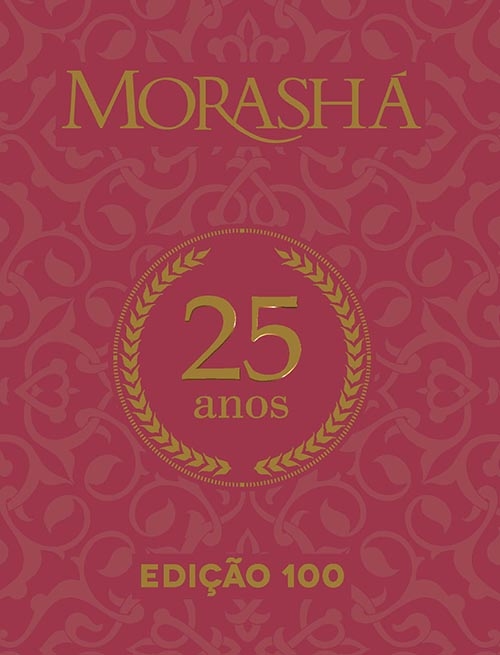Em maio de 1945, quando terminou a 2ª Guerra Mundial, a liderança sionista se dividiu. O grupo em torno de Chaim Weizmann acreditava que o futuro da antiga Palestina continuaria dependendo de ações diplomáticas voltadas para a boa vontade do Império Britânico. Ben Gurion e seus próximos estavam convictos de que o destino do sionismo estaria na Casa Branca porque os Estados Unidos haviam emergido do conflito como a maior potência mundial.
No mês de julho daquele mesmo ano, os seguidores de Weizmann comemoraram a eleição de Clement Atlee, líder do Partido Trabalhista britânico, para primeiro-ministro, derrotando Winston Churchill, o grande comandante da vitória sobre o nazismo, uma ingratidão que até hoje os ingleses não conseguem bem explicar. Além de Weizmann, todo o núcleo dirigente da Agência Judaica exultou com a vitória de Atlee. Depois de longos anos do Partido Conservador no poder, o Reino Unido teria à frente um político de ideologia socialista, a mesma que inspirava a corrente majoritária do movimento sionista. Enfim poderia haver com os mandatários um entendimento mais aberto, com menos repressão e favorecimento para os árabes cujo imponente guia, o Mufti de Jerusalém, se havia aliado aos nazistas.
Entretanto, os dirigentes sionistas foram fulminados por uma terrível decepção. Os ingleses em nada modificaram sua política com relação à Palestina. Pelo contrário. Sustentaram em vigor o White Paper, documento datado de 1939, que proibia a imigração de judeus para Eretz Israel (Terra de Israel). Se esta imposição não tivesse existido, é lícito imaginar que pelo menos um milhão de judeus teriam sido poupados do Holocausto. A vigência do White Paper, mesmo depois da 2a Guerra, fazia com que milhões de deslocados e sobreviventes se aglomerassem em campos de refugiados em diversos países da Europa.
Foi nessa conjuntura que teve início a chamada Aliá Bet, o transporte clandestino de judeus apátridas para a Palestina. Os refugiados eram recolhidos em suas instalações provisórias e embarcados em navios pequenos e rudimentares, que partiam de portos situados na costa italiana. Ao todo, cerca de 100 mil pessoas tentaram entrar de forma ilegal na Palestina sob mandato britânico, tendo sido realizadas 42 viagens em 120 navios. Mais da metade deles foram interceptados pela marinha britânica, que mantinha oito navios em plantão permanente no porto de Haifa, na Palestina. Esse bloqueio muitas vezes se deu de forma violenta e alguns barcos com refugiados foram afundados, resultando em mais de mil afogamentos. A maioria dos sobreviventes capturados foi internada em campos na Ilha de Chipre. Não eram réplicas dos campos de concentração, mas de qualquer maneira estavam cercados por arames farpados.
Durante três anos, ou seja, desde o fim da 2a Guerra até a independência de Israel, os ingleses mantiveram 50 mil judeus sob custódia. Foram poucos os que conseguiram furar o bloqueio.
Ernest Bevin, nomeado chanceler (ministro das relações exteriores) do gabinete de Atlee, antigo sindicalista, era radicalmente contra a existência de uma nação judaica e diferentes historiadores não hesitam em apontá-lo como um explícito antissemita.
Sentindo-se impotente para solucionar a questão da Palestina, em fevereiro do ano seguinte Bevin anunciou que o Reino Unido renunciaria a seu poder de mandatário e que, doravante, transferia a solução do problema do Oriente Médio para as Nações Unidas.
A ONU não perdeu tempo. Em maio de 1947 instituiu a UNSCOP (sigla em inglês referente ao Comitê Especial para a Palestina), incumbida de fazer uma inspeção ao vivo naquele território e, em seguida, apresentar um plano de resolução. Os dirigentes da Agência Judaica contavam com o apoio dos Estados Unidos para o sionismo, não tanto por parte do governo, em face das omissões de Roosevelt durante o Holocausto, mas por conta do expressivo número de personalidades importantes e influentes na vida americana que já haviam abraçado a causa judaica. Entretanto, a posição da outra grande potência do pós-guerra, a União Soviética, era uma aflitiva incógnita.
Na verdade, os sionistas tinham razões históricas de sobra para desconfiar dos soviéticos. Embora a revolução bolchevique tivesse contado com a participação de grande número de judeus, o antissemitismo permanecia entranhado no cotidiano dos russos. A rigor, múltiplas eram as razões para que os dirigentes da Agência Judaica tivessem poucas esperanças de contar com uma posição favorável do bloco soviético nas Nações Unidas.
No que dizia respeito à posição dos Estados Unidos, os líderes sionistas avaliavam com ceticismo as ações até então tomadas pelo presidente Franklin Roosevelt. Sabia-se que o problema judaico sempre estivera presente em suas preocupações. Durante muitos anos, ele costumava comentar em tom jocoso com seus assessores que talvez fosse possível estabelecer os judeus nos picos andinos ou nas savanas africanas, ou em quaisquer outras paragens, menos nos Estados Unidos.
No entanto, levando o assunto a sério, Roosevelt ordenou a elaboração de um projeto, que recebeu o título de Projeto M (referência à palavra migrantes), com a finalidade de traçar diretrizes para alocar as milhares de pessoas que certamente vagariam sem destino depois da guerra, especialmente os judeus. Nesse sentido, o presidente convocou o jornalista, romancista e ex-funcionário do serviço de inteligência, Frank Carter, para o assessor nessa questão. Carter, por sua vez, chamou o eminente antropólogo Henry Field e o instruiu para que reunisse outros competentes colegas de profissão.
Por que antropólogos? Porque Roosevelt pretendia que os futuros refugiados fossem agrupados seguindo critérios étnicos, sociais e, inclusive, com perspectivas para bem sucedidas misturas raciais. Essa equipe deveria fazer um minucioso levantamento das regiões do planeta capazes de acolher grandes números de refugiados, mas os Estados Unidos não deveriam constar desses levantamentos. A morte de Roosevelt, em abril de 1945, resultou também na morte do Projeto M e não se sabe se, realmente, aconteceu o trabalho da equipe de antropólogos.
Tendo em vista que a questão da Palestina havia sido transferida de Londres para as Nações Unidas, a Agência Judaica montou uma força-tarefa, encabeçada por Moshe Sharret, em Nova York, encarregada de atuar na sede da ONU. Enquanto a UNSCOP percorria a Palestina, o pessoal de Sharret fazia um contínuo trabalho de persuasão junto a embaixadores dos países de todos os continentes. Moshe Sharret e Eliahu Epstein, diretor da Agência Judaica em Washington, falavam o idioma russo com fluência e costumavam manter longas e amenas conversas com Andrei Gromyko, o embaixador soviético.
No dia 14 de maio de 1947 o diplomata russo se dirigiu à Assembleia Geral das Nações Unidas: “O império britânico falhou em sua missão, transformando a Palestina num estado policial. Durante a guerra, o povo judeu foi submetido a um indescritível sofrimento que não pode ser resumido em estatísticas. Agora, centenas de milhares de judeus vagueiam sem destino pelos países da Europa. Ajudar este povo é uma obrigação das Nações Unidas”.
Abba Eban escreveu em suas memórias que ficou tão atordoado com o discurso de Gromyko que mal conseguiu assimilar o que ele estava dizendo. Aquela mudança na atitude soviética, que há trinta anos considerava o sionismo como um movimento inimigo do povo russo, era mais do que surpreendente. No entender de Eban, só tinha como justificativa a antipatia de Stalin pelos ingleses e seu desejo de bani-los do Oriente Médio, além de uma represália a Churchill que, em março de 1946, cunhara a expressão “Cortina de Ferro” que os comunistas não suportavam.
Semanas antes da aprovação da partilha da Palestina pela Assembleia Geral, no dia 29 de novembro de 1947, Gromyko voltou ao pódio ainda mais enfático: “O povo judeu esteve vinculado com o território da Palestina no transcurso de longos períodos da história. Além disso, devemos levar em conta a situação em que se encontra o povo judeu desde o fim da 2a Guerra Mundial. A solução do problema da Palestina, com a criação de dois estados independentes, terá profundo significado histórico e atenderá às justas reivindicações do povo judeu”. Foi sob o eco dessas palavras que a União Soviética e seus satélites, Bielorússia, Ucrânia, Polônia e Checoslováquia, votaram a favor da partilha.
De dezembro de 1947 a maio de 1948, o futuro Estado de Israel viveu dias dramáticos. Primeiro houve a incerteza referente à proclamação em si da independência. Parte dos dirigentes da Agência Judaica julgava inoportuna qualquer medida apressada, ou seja, a independência logo após a retirada do último inglês da Palestina. Mas era essa pressa que era defendida por Ben Gurion, cuja tese acabou prevalecendo. A par dessa incerteza, havia a certeza da carência militar do país a ser criado. E prevalecia um consenso: o futuro Estado de Israel só se viabilizaria se obtivesse o reconhecimento por parte dos Estados Unidos.
Antes da votação da partilha, Truman recebeu uma carta de seu velho amigo Eddie Jacobson, que fora seu sócio numa loja de gravatas em Missouri: “Faço-lhe um apelo em nome do meu povo. O futuro de um milhão e meio de judeus refugiados na Europa depende do que será aprovado nas Nações Unidas. O inverno está chegando e é preciso aliviar o sofrimento daquela gente. De que maneira eles poderão sobreviver no frio, vai além da minha imaginação. Só há um lugar neste mundo para onde possam ir: a Palestina. Eu e você sabemos disso muito bem. Talvez eu seja um dos poucos americanos que realmente sabe avaliar o enorme peso que agora recai sobre seus ombros. Portanto, eu deveria ser o último a fazê-lo pesar ainda mais. Mas sinto que você me perdoará porque a vida de mais de um milhão de pessoas dependem da sua palavra e do seu coração. Harry, meu povo precisa de socorro e eu apelo para que você o ajude”.
Pedindo para guardar confidencialidade, Truman foi conciso na resposta: “Como o assunto depende das Nações Unidas, não será adequado que eu intervenha no processo, mesmo porque são necessários dois terços dos votos da Assembleia para que a partilha seja aprovada. O caso está entregue a Marshall e espero que ao final tudo dê certo”.
Dias depois, ainda por interferência de Jacobson, o presidente aceitou receber Chaim Weizmann em audiência. No dia 19 de novembro, Eliahu Epstein encontrou-se com Weizmann e o juiz Frankfurter no café da manhã. Juntos elaboraram um memorando que seria entregue ao presidente ao cabo da reunião.
O documento enfatizava a absoluta necessidade de o deserto do Neguev estar dentro das futuras fronteiras do estado judeu, “porque somente através de Eilat e do Golfo de Ákaba teremos acesso à navegação no Mar Vermelho”. O memorando acrescentava: “O próprio relatório do UNSCOP reconheceu a conexão histórica entre os judeus e aquele pequeno porto no Mar Vermelho”.
Weizmann foi recebido durante meia hora no Salão Oval da Casa Branca e, em vez de entregar o papel, resolveu tratar de tudo que era crucial em viva voz, estendendo um mapa na mesa do presidente. Referiu-se aos tempos de fazendeiro de Truman e, portanto, ele saberia compreender de que maneira os pioneiros judeus estavam fazendo verdadeiros milagres na agricultura, tornando férteis terras que estavam áridas por mais de cem anos. Na questão do acesso ao Mar Vermelho, explicou que se o Neguev não viesse a pertencer a Israel, continuaria relegado à condição de deserto. Weizmann escreveu em suas memórias: “Saí muito feliz daquela reunião. O presidente entendeu rapidamente o que eu lhe apontava no mapa e prometeu que levaria o assunto para a delegação americana nas Nações Unidas. De fato, Truman telefonou para Herschell Johnson, o embaixador americano na ONU, e deu-lhe ordens inamovíveis em favor de um Neguev israelense.
No dia 29 de novembro, quando a partilha foi aprovada, o Times Square e arredores, em Nova York, tornaram-se um pandemônio. Milhares de pessoas cantavam e dançavam nas ruas enquanto eram pronunciados calorosos discursos dos líderes sionistas. Emanuel Neumann, um dos principais ativistas sionistas, falou no microfone: “Devemos essa decisão favorável das Nações Unidas em grande parte, talvez mesmo a maior de todas, aos esforços incansáveis do presidente Harry Truman”.
Nos primeiros dias de dezembro, Eddie Jacobson voltou à Casa Branca. Recebido por Truman, apenas disse: “Muito obrigado e que D’us o abençoe”. Os amigos se abraçaram e, mais tarde, Jacobson anotou em seu diário: “Ele, somente ele, foi o responsável pelos votos favoráveis de diversas delegações”.
Com a morte de Roosevelt, em abril de 1945, assumira a presidência seu vice, Harry Truman, nascido em 1884 na cidade de Independence, estado de Missouri. Era de religião batista e tinha profunda devoção pelos ensinamentos bíblicos que, em considerável parte, viriam a orientar todo o seu comportamento com relação ao povo judeu. Em novembro de 1944, o presidente Roosevelt disputaria seu quarto mandato. Apesar de já estar há doze anos no poder, as guerras na Europa e no Pacífico ainda estavam em curso e os americanos julgavam que seria desaconselhável mudar a chefia do governo. Mas, no plano interno e, a despeito do conflito, os bastidores do Partido Democrata estavam pegando fogo porque não havia um só nome que fosse aceito para a vice-presidência. Depois de ácidas desavenças, o consenso acabou convergindo para Harry Truman, até então um senador por seu estado natal, de pouca visibilidade.
Justamente naquele mês de abril de 1945 os Estados Unidos e o mundo começaram a tomar conhecimento dos horrores do Holocausto. Havia centenas de milhares de sobreviventes que, na condição de refugiados, estavam sob a responsabilidade dos Estados Unidos na Áustria e na Alemanha. Truman, ainda vice-presidente, se indagava sobre o que poderia ser feito em face daquela sombria realidade. Pediu, então, a alguns amigos militares que fizessem uma indagação informal destinada a apurar o que aquela gente em farrapos pretendia daquela hora em diante. A maioria respondeu: “Queremos ir para Eretz Israel”. Isto significou para o presidente, assim que tomou posse, uma grande dor de cabeça.
Os americanos tinham lutado ao lado dos ingleses na guerra e com eles mantinham uma importante aliança política e estratégica nos desdobramentos do pós-guerra. Contudo, no que dizia respeito à então Palestina, Harry Truman e Clement Atlee, primeiro-ministro britânico, tinham convicções opostas. Os ingleses permaneciam irredutíveis no cumprimento do White Paper, o documento de seis anos atrás que impedia a imigração de judeus para a então Palestina.
Embora o embate da partilha estivesse superado, o secretário de estado americano, o general George Marshall insistia que as posições de judeus e árabes eram irreconciliáveis, o que certamente provocaria um conflito armado. Foi em meio a esse clima inamistoso que avultou na Casa Branca a figura de um jovem assessor do presidente Harry Truman chamado Clark Clifford. (Tive o privilégio de conhecê-lo na década de 70, no Rio de Janeiro, e de manter com ele uma longa e iluminada conversa). Seu primeiro passo foi produzir um memorando de crítica à posição do Departamento de Estado, comandado por Marshall. Argumentou que tentar anular a partilha era simplesmente impensável. E mais: que os Estados Unidos deveriam intervir junto aos países árabes para que aceitassem a resolução da ONU. Se houvesse recusa, seriam rotulados como agressores.
Enquanto isso, a situação na Palestina ia de mal a pior, acentuada pelo cerco de Jerusalém, obrigando 100 mil judeus a se submeterem a um terrível racionamento de água e comida. Era preciso que os Estados Unidos fizessem uso de sua força política e, se preciso, militar, para que a partilha fosse de fato implementada. No mês seguinte, Clifford chamou a atenção de Truman para as manobras antipartilha que seguiam sendo feitas por Marshall. O presidente respondeu: “Eu sei o que Marshall pensa e Marshall sabe o que eu penso. Ele não vai conseguir mudar minha política”.
Enquanto isso, a situação na Palestina ia de mal a pior. Era preciso que os Estados Unidos fizessem uso de sua força política e, se preciso, militar, para que a partilha fosse de fato implementada. A Agência Judaica chegou à conclusão de que era imprescindível um novo encontro entre Truman e Weizmann, que era admirado e respeitado pelo presidente. Convocado para ajudar a resolver o problema, Jacobson mandou um telegrama para Truman: “Chaim Weizmann é um grande estadista e o mais completo líder que qualquer povo possa almejar. Em sua idade avançada, ele está combalido por não poder falar-lhe mais uma vez. Eu imploro que você o receba”.
Como não obteve uma resposta firme do presidente, Jacobson voou para Washington. O que poderia dizer para sensibilizar o amigo de tantos anos e que se tornara quase inatingível? Pediu a Abba Eban que o aconselhasse e ouviu: “Truman tem verdadeira devoção pelo presidente Andrew Jackson. Procure traçar uma comparação entre Jackson e Weizmann. Talvez dê certo”. Mesmo sem audiência marcada, Jacobson rumou para a Casa Branca e logo foi acolhido pelo presidente que permanecia irredutível. Antes de se levantar, Jacobson apontou para um busto de Andrew Jackson existente no salão oval e disse: “Harry, durante toda a sua vida você tem tido um herói. Não há ninguém na América que conheça melhor do que você a vida de Jackson. Pois é, meu amigo, eu também tenho um herói. Seu nome é Chaim Weizmann. É preciso que você o ouça para saber de fato o que está acontecendo na Palestina”. Truman tamborilou os dedos sobre a mesa. Passados quase dois minutos de silêncio, respondeu: “Está bem, você ganha, seu careca sem vergonha. Pode marcar aí com o pessoal”. Weizmann foi recebido no dia 19 de março e, em princípio, obteve a concordância de Truman no sentido de que fosse suspenso e embargo de armas e que a partilha seria intocável.
No dia 12 de abril, Jacobson voltou à Casa Branca. Queria ouvir do próprio presidente como tinha sido o encontro com Weizmann e jogou um verde, perguntando se, por hipótese, os Estados Unidos reconheceriam o Estado de Israel, cuja independência estava para ser proclamada em pouco mais de um mês. Truman disse: “Fique sabendo que sou inteiramente favorável a essa hipótese”.
No dia 14 de maio de 1948, quando Israel se tornou soberano, a Casa Branca viu-se diante do problema do reconhecimento da nova nação: sim ou não? Marshall entrou no Salão Oval acompanhado de um verdadeiro batalhão de funcionários do alto escalão, todos contra o reconhecimento. Na véspera, Clark Clifford havia entrado em contato com Eliahu Epstein a quem pediu munições pragmáticas e ideológicas a favor de Israel, um país que ainda nem tinha recebido este nome. Na reunião decisiva no Salão Oval, o pronunciamento de Clifford foi brilhante e irrespondível. Irritado, Marshall chegou a dizer ao presidente: “Se o senhor aprovar o reconhecimento é bem provável que eu não lhe dê o meu voto na próxima eleição”. Mas, a cabeça de Truman já estava feita. Os Estados Unidos reconheceram Israel no mesmo dia da sua criação.
No dia 15 de maio, Stalin reconheceu a independência do Estado de Israel, não porque amasse os judeus, ou os sionistas, ou o país que acabara de ser criado. Em termos de política externa pragmática interessava à União Soviética que os britânicos saíssem do Oriente Médio e existia a esperança de que ali pudesse florescer uma semente comunista em função da ideologia socialista do partido majoritário, comandado por Ben-Gurion, que seria o primeiro-ministro do estado judaico.
Ademais, dentre os dezesseis componentes do primeiro gabinete israelense, oito ministros haviam nascido na Rússia, inclusive o grande líder, Chaim Weizmann. Mas, o que seria um bom relacionamento entre os dois países durou pouco. Em janeiro de 1949, um artigo publicado pelo eminente economista soviético T.A. Genin enfatizou que “os objetivos do nacionalismo judaico e do sionismo são objetivos iguais aos do capitalismo reacionário e do imperialismo norte-americano”.
A guerra de Stalin contra os judeus, em geral, e contra o Estado judeu, em particular, teve um final imprevisto e inesperado. O comunismo acabou e Israel está celebrando 70 anos de soberania.
Zevi Ghivelder é escritor e jornalista