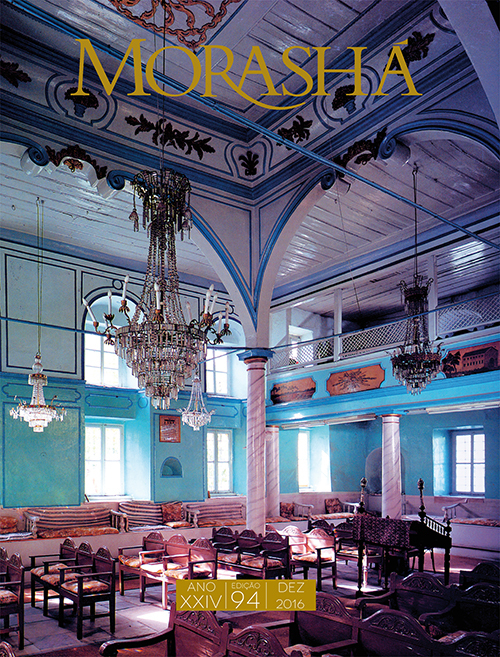A vitória do republicano Donald Trump na eleição presidencial de novembro, após a mais corrosiva campanha da história recente dos EUA, gerou polêmicas e reações diversas na comunidade judaica norte-americana e no governo de Israel.
O ministro da Educação, Naftali Bennett, comemorou o resultado, e o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu reagiu de forma mais discreta, embora suas posições políticas se aproximem mais de Trump, em comparação, e Netanyahu, por telefone, tenha parabenizado Trump pela vitória já na quarta-feira, dia seguinte à votação, descrevendo-o como “um verdadeiro amigo de Israel”. O republicano, na troca de gentilezas, convidou o premiê para um encontro “na primeira oportunidade”.
Durante a campanha, Netanyahu sinalizou uma estratégia de equilíbrio entre os dois candidatos, apesar de sua conhecida simpatia pelos republicanos e das tensões vividas no relacionamento com o presidente Barack Obama. Em Nova York, em setembro, para a abertura anual da Assembleia Geral da ONU, Netanyahu se reuniu com Trump e Hillary, num esforço para preservar equidistância entre os adversários na corrida eleitoral.
Após a vitória republicana, Naftali Bennett, líder do partido governista Casa Judaica, opinou: “A era do Estado palestino terminou”. O ministro israelense avalia que o governo Trump abandonará a política de criticar a construção de assentamentos judaicos em territórios conquistados por Israel na Guerra dos Seis Dias, em 1967.
Outros ministros e deputados de partidos direitistas, como o Likud, também demonstraram otimismo em relação a Trump, na expectativa, por exemplo, da ruptura do acordo nuclear com o Irã, um dos pilares da política externa de Barack Obama, e do reconhecimento formal de Jerusalém como capital israelense, já que a embaixada norte-americana se localiza em Tel Aviv.
Trump falou sobre a questão de Jerusalém no encontro com Netanyahu, em setembro. Repetiu promessa já feita por outros candidatos, democratas ou republicanos, como George W. Bush. Ao longo da campanha, rica em ataques pessoais entre os candidatos, foram escassos os debates substanciais sobre política externa, o que resultou, no caso de Donald Trump, numa bússola pouco definida sobre suas posições a respeito de temas ligados a Israel e ao Oriente Médio.
Naftali Bennett, de acordo com o “The New York Times”, admitiu que as posições de Trump não estão totalmente claras, mas observou: “Primeiro, devemos dizer o que desejamos”. A reação do ministro da Educação, no entanto, se apoiou em declarações do advogado Jason Greenblatt, um dos principais dirigentes da campanha republicana. Segundo Greenblatt, Trump não considera os assentamentos “um obstáculo à paz”.
As reações mais cautelosas de Netanyahu, em comparação com as de Bennet, se devem provavelmente à espera de posições mais claras de Trump sobre os rumos da política norte-americana para o Oriente Médio, já que, ao longo da campanha, o candidato republicano ziguezagueou.
Em fevereiro, Trump defendeu assumir uma postura “neutra” no conflito israelo-palestino, para, segundo ele, obter confiança dos dois lados envolvidos numa eventual negociação. Dias depois da vitória nas urnas em novembro, num resultado que desafiou a maioria esmagadora das previsões, o republicano declarou ao The Wall Street Journal que gostaria de alcançar um acordo de paz entre israelenses e palestinos, embora tenha sustentado, ao longo da campanha, o slogan “America First”, que sinalizaria uma política mais isolacionista e empenhada em diminuir o envolvimento de Washington em temas da agenda internacional.
Nos embates com Hillary Clinton, Donald Trump descreveu o entendimento nuclear com o Irã, assinado também por países como Rússia, China, Alemanha, França e Reino Unido, como um “desastre” e o “pior acordo jamais negociado”. O republicano afirmou, em março, num discurso ao AIPAC, que desmantelar o pacto com Teerã seria sua “prioridade número um”.
O megaempresário, em outras ocasiões, apontou para o combate ao Estado Islâmico como tarefa urgente e prioritária, sugerindo a aproximação com o presidente Vladimir Putin como fórmula para aumentar a pressão sobre o grupo terrorista, por meio de ações militares conjuntas em solo sírio. Trump também insistiu, durante a campanha, na importância de promover uma melhoria nas deterioradas relações entre Washington e Moscou.
O desafio de decifrar os rumos do governo Trump recorre, entre outras ferramentas, a mapear as pessoas com mais acesso e eventual influência sobre o futuro presidente. A filha Ivanka desempenhou um papel de destaque na reta final da disputa, como importante conselheira nos rumos da campanha. A ex-modelo se converteu ao judaísmo, segue o rito ortodoxo e é casada com o judeu Jared Kushner.
Trump costuma falar com orgulho de seus “netos judeus”. Entre os mais próximos assessores do futuro presidente, estão, além de Jason Greenblatt, o advogado David Friedman, cuja família cultiva laços históricos com o Partido Republicano. Em 1984, seus familiares receberam Ronald Reagan para uma refeição de Shabat.
No entanto, a comunidade judaica norte-americana apresenta uma tradição de alinhamento com o Partido Democrata, historicamente apoiado em minorias étnicas e religiosas, como negros, hispânicos, católicos e judeus.
Segundo cálculos iniciais, Hillary Clinton amealhou 71% do voto judaico, índice próximo à média histórica. Trump conquistou o apoio dos setores mais conservadores e religiosos da comunidade judaica norte-americana, que rejeitam posições democratas em temas sociais ou na política em relação a Israel.
A derrota de Hillary, portanto, gerou uma onda de preocupação em partes da comunidade judaica, preocupadas com o fato de forças antissemitas apoiarem a candidatura Trump, ainda que o candidato republicano tenha rejeitado o apoio de grupos extremistas, que defendem, por exemplo, “a supremacia branca” nos Estados Unidos.
No início da montagem de sua equipe de governo, Trump alimentou polêmica ao nomear como estrategista-chefe da Casa Branca Stephen Bannon. A Liga Antidifamação (ADL) condenou a indicação, apontando o Breitbart, site criado por Bannon, como espaço frequentado por “nacionalistas brancos e racistas”.
Morton Klein, presidente da Organização Sionista dos EUA (ZOA), saiu em defesa de Bannon: “Uma vez que a plataforma do presidente-eleito é a mais fortemente pró-Israel jamais vista, seria um antissemita indicado para implementar tal plataforma”? Para Klein, Bannon corresponde a “um amigo de Israel e não a um antissemita”.
A era Trump, em seus primeiros passos, alimenta controvérsias e deixa várias perguntas no ar. Os próximos meses e anos, certamente, se encarregarão de jogar mais luzes sobre os rumos que nortearão o novo governo da maior potência política, econômica e militar do planeta.
Jaime Spitzcovsky foi editor internacional e correspondente da Folha de S. Paulo em Moscou e em Pequim