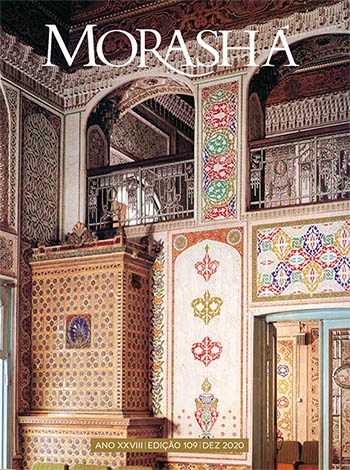Ele foi mais do que um militar, mais do que um diplomata, mais do que um estadista. No transcurso do 25º aniversário de seu trágico assassinato, Itzhak Rabin se reafirma como um símbolo do novo judeu que emergiu e surpreendeu o mundo nos primeiros anos do século vinte, um novo ser humano: forte, altivo e determinado, insumbmisso à opressão dos guetos, obstinado na luta pela restauração da soberania judaica em sua pátria ancestral.
O texto a seguir não é uma biografia complementar de Itzhak Rabin. Sua trajetória de vida está imortalizada em milhares de páginas da imprensa em Israel e no mundo, artigos acadêmicos e livros consistentes, tudo devidamente inscrito na história do povo judeu. Recorro à memória para resgatar o conteúdo das enriquecedoras conversas que com ele mantive em esparsos encontros no decorrer de cerca de vinte anos.
Rabin esteve no Rio de Janeiro pela primeira vez em 1969, acho que foi em agosto. Veio em caráter rigorosamente pessoal, sem conhecimento das autoridades brasileiras, que decerto o receberiam de acordo com o protocolo diplomático, já que na ocasião era embaixador de Israel em Washington. Se a sua presença chegasse ao conhecimento da mídia, decerto despertaria enorme atenção em função da fama internacional que havia adquirido dois anos antes como chefe do estado-maior das Forças Armadas de Israel na fulminante vitória da Guerra dos Seis Dias.
Rabin era uma pessoa gentil e formal, econômicos sorrisos, quase taciturno. Nunca mudou ao longo dos anos. No primeiro momento em que pretendia entrevistá-lo, pediu-me com sua voz de baixo profundo que desligasse o gravador e perguntou-me se poderia fazer-lhe um favor. Era necessário permanecer incógnito para os círculos oficiais, mas queria se encontrar com o general Sizeno Sarmento (1907-1983) que fora o último comandante do Batalhão Suez no Oriente Médio, desde o fim de 1956 até maio de 1967.
Para quem não se lembra, o Batalhão Suez foi uma tropa brasileira com as boinas azuis das Nações Unidas, posicionada num acampamento entre Israel e o Egito, tendo como quartel-general um antigo forte inglês na cidade de Rafah, perto da Faixa de Gaza. Sua missão era garantir o cessar-fogo vigente após o conflito no qual Israel, após aliança com a França e o Reino Unido, cedeu à pressão dos Estados Unidos e retirou suas tropas que haviam ocupado o Sinai na chamada Guerra de Suez.
Naqueles tempos de ditadura no Brasil o acesso aos generais no poder, entre eles o general Sizeno, era um tanto complicado. Qualquer encontro presencial decerto ia requerer uma justificativa e a presença de Rabin no Brasil deveria permanecer ignorada. Recorri à discrição de um amigo, o general Otávio Alves Velho, intelectual de porte, raridade no meio militar. A visita foi marcada para dois dias depois, às nove horas da manhã, no prédio do então Ministério da Guerra, no centro do Rio. Aguardei ansioso na calçada observado por uma sentinela, até a chegada do Rabin e do Otávio, apresentei-os e combinei com Rabin que voltaria a procurá-lo no mesmo dia, mais tarde.
Quando começamos a entrevista, o próprio Rabin revelou a razão do encontro com o general Sizeno. Primeiro, porque já o havia recebido em Tel Aviv. O militar brasileiro gostava de passear por Israel e o fazia de maneira informal, alheio aos protocolos das Nações Unidas. Segundo, porque Rabin queria saber qual tinha sido sua imediata movimentação quando recebeu a ordem oficial da ONU para evacuar do Sinai a tropa brasileira. Aquela informação lhe era importante para avaliar a ingerência das Nações Unidas antes da Guerra dos Seis Dias, além de subsidiar as memórias que algum dia pretendia escrever.
Duas semanas antes do início das hostilidades, atento às sucessivas declarações bélicas de Gamal Abdel Nasser, ditador do Egito, o gabinete israelense já se preocupava com a iminência de um conflito. Conforme afirmação que me foi feita por Rabin, a tropa da ONU poderia ser um empecilho para qualquer iniciativa de incursão terrestre e não convinha criar um incidente diplomático de caráter internacional se, de alguma forma, os boinas azuis viessem a intervir. Ademais, o secretário-geral das Nações Unidas, o birmanês U Thant, não era particularmente favorável a Israel.
No dia 23 de maio de 1967, Nasser anunciou que passaria a deter o controle da passagem marítima pelo estreito de Tirã, o que equivalia a uma declaração de guerra, conforme conclusão do próprio Rabin, segundo me disse.
No dia 26, U Thant, sem avisar aos governos de Israel e do Egito, ordenou a retirada da força internacional, fato que acabou por servir ao interesse estratégico de Israel. O general Sizeno revelou a Rabin que fora apanhado pela mais absoluta surpresa em face da atitude de U Thant. Acentuou que em princípio era favorável a Israel no confronto com os países árabes, mas só lhe restava obedecer a ordem recebida. O general brasileiro inclusive acrescentou que tinha certeza da supremacia militar de Israel tanto ao Norte como ao Sul do país. Porém, jamais imaginou que uma possível guerra teria um desfecho tão rápido.
Itzhak Rabin nasceu no dia 1 de março de 1922, em Jerusalém, filho de pai americano e mãe russa, pioneiros na antiga Palestina. Depois de formado numa escola agrícola, ingressou no Palmach, uma tropa de elite da Haganá, o exército clandestino judeu durante o mandato britânico. O fato de ter pertencido àquela unidade militar foi fundamental para a sua formação não apenas como militar mas como personalidade pública, como um nacionalista sem populismo, sempre orientado por rígidos princípios éticos e valores morais. A rigor, o Palmach significava para o futuro estado judaico mais do que um braço exímio da Haganá. Seus componentes mantinham comprometimentos solidários que se materializavam em irrestrita lealdade ao espírito da corporação. As tarefas do Palmach abrangiam, além de um sofisticado sistema de coleta de informações estratégicas, ações e incursões militares pontuais.
O contingente clandestino era dirigido por dois comandantes que se tornaram ícones das forças de defesa de Israel: Itzhak Sadeh e Ygal Allon, ambos ligados ao Mapam, partido político mais à esquerda do Mapai de Ben Gurion. Mas, na prática, seus combatentes transcendiam quaisquer diferenças ideológicas e a tropa avultava na admiração popular por causa da influência cultural exercida junto ao yishuv (comunidade judaica na antiga Palestina) por jovens escritores, que eram conhecidos artistas plásticos, atores de teatro, poetas e compositores.
O Palmach viveu momentos relevantes antes e durante a Guerra da Independência, em 1948. Um de seus sucessos mais expressivos foi a chamada Operação Yiftach, destinada à captura da cidade de Sfat (Safed), ao norte de Haifa, reverenciado centro de estudos bíblicos e teológicos. Sob o comando de Ygal Allon, uma primeira investida fracassou. Os árabes que controlavam o local sugeriram um cessar-fogo, mas Allon recusou. Organizou uma nova ofensiva, desfechada no dia 9 de maio, desta vez bem sucedida por ter contado com uma bateria de davidkas, uma espécie improvisada de morteiros fabricados nas oficinas ocultas da Haganá. Em maio de 1948, ao ser proclamada a independência, o Palmach contava com cerca de três mil combatentes, incluindo duzentas mulheres nas linhas de frente.
Perguntei a Rabin qual tinha sido a importância do Palmach em sua vida. Respondeu que o Palmach fora a sua própria razão de viver e que ficou devastado quando Ban Gurion ordenou o seu desmantelamento, ao mesmo tempo da deposição de armas consumada pela organização clandestina Irgun. O propósito de Ben Gurion era lógico e preciso: Israel deveria ter um só exército, solidamente unificado.
Foi difícil conversar com Rabin sobre a sua participação pessoal na Guerra dos Seis Dias. Insistiu que, apesar de seu alto posto de comando, era apenas uma das peças de uma equipe coesa, cujas opiniões e formulações, para se transformarem em prática dependiam das aprovações do gabinete de governo. Indaguei se era verdade que o primeiro-ministro Levi Eshkol tinha relutado muito antes de encaminhar ao gabinete a iniciativa de uma ação militar. Respondeu que sim, com um aceno de cabeça. Tornou a insistir na prevalência de uma equipe competente e acrescentou que, numa possível ação militar contra um vizinho inimigo, já estava consolidado o plano da destruição da força aérea, quando esta ainda se encontrasse no solo, tal como de fato aconteceu contra o Egito. Esse ataque de surpresa, correspondia a uma estratégia aperfeiçoada mais de dois anos antes. Revelou, em seguida, que o dia crucial foi o 4 de junho, quando o general Aron Yariv, chefe dos serviços de inteligência, informou ao gabinete que o exército jordaniano se havia colocado sob comando egípcio e que fora detectada uma movimentação de tropas do Iraque na direção da Jordânia. Além disso, ocorria significativo aumento de concentração de regimentos egípcios no Sinai. A palavra foi dada a cada um dos membros do gabinete e todos foram a favor de uma ofensiva, ressalvando a necessidade de Israel preservar sua credibilidade internacional. O ministro Haim Givati também concordou, mas fez uma ressalva: “Se vocês esperam que as grandes potências nos declarem um apoio explícito, vão ficar esperando para sempre”.
Itzhak Rabin foi acumulando promoções nas Forças de Defesa de Israel até atingir o posto de chefe do estado-maior. Em 1968, após contínuo serviço militar, optou pela reserva, despiu o uniforme e foi nomeado embaixador em Washington, o posto mais importante e sensível no exterior. Sob o ponto de vista de relações públicas, a nomeação de Rabin era a ideal. Os Estados Unidos haviam apoiado Israel na Guerra dos Seis Dias e Rabin conservava a aura de grande comandante vitorioso. No entanto, no aspecto diplomático, era uma missão difícil de ser cumprida, inclusive porque ele não tinha experiência na arena diplomática. Naquele ano a Guerra Fria atravessava um período de grande intensidade, mais particularmente no Oriente Médio, onde a União Soviética havia fornecido toneladas de equipamentos e munições ao exército egípcio, destroçado na Guerra dos Seis Dias, fato que resultou em inevitável sentimento de derrota para Moscou.
Era um ano de eleição nos Estados Unidos, tendo como candidatos Hubert Humphrey pelo Partido Democrata e Richard Nixon pelo Republicano. Israel preferia que o democrata permanecesse na Casa Branca, tendo em vista o excelente relacionamento mantido durante seis anos com o presidente Lyndon Johnson. O candidato Nixon era visto como um conservador que pouco tinha em comum com a ideologia do partido Mapai, então no poder em Israel. Foi grande a surpresa mundial com a vitória de Nixon, até porque dois anos antes ele não conseguira se eleger governador da Califórnia.
Quis saber de Rabin como ele havia encarado sua incumbência como embaixador iniciante. E ele disse que, quando chegou a Washington, os líderes judaicos americanos lhe traçaram um perfil esquemático de Nixon, observando que o novo presidente não era um antissemita no sentido clássico da palavra, porém não gostava de judeus, embora admirasse Israel. Para atenuar o quadro, destacaram que ele havia nomeado um judeu, Henry Kissinger, para ocupar a Secretaria de Estado.
Rabin contou-me que poucos meses depois de assumir a embaixada, conversou com um ex-assessor de Lyndon Johnson, que deixava a presidência, sobre a visita feita aos Estados Unidos pelo premiê soviético Kossygin pouco depois da Guerra dos Seis Dias. Longe da imprensa e na presença de poucos circunstantes, os dois chefes de estado se permitiram uma troca de ideias informal enquanto percorriam os jardins da Casa Branca. O russo disse: “São cem milhões de árabes e três milhões de judeus no Oriente Médio. Não entendo essa política americana de ficar ao lado dos judeus”. Lyndon Johnson respondeu: “Ficamos do lado dos judeus porque achamos que a causa deles é justa”.
Rabin disse que a simples noção da causa justa, ou seja, a validade de o povo judeu possuir uma pátria, foi o foco de sua argumentação junto aos poderosos políticos americanos e adversários de Israel, sempre que necessário.
Em leituras e informações posteriores, pude constatar que a atuação de Rabin como embaixador ultrapassou em anos-luz seu discurso da causa justa. A prioridade de sua missão, afinal muito bem sucedida, era garantir o suprimento de armamentos dos Estados Unidos para Israel, além de vultosos aportes financeiros. Isso exigiu de sua parte grande habilidade diplomática no trato com o gabinete da Casa Branca, a par do Senado e da Câmara americanos.
No decorrer de sua missão, Itzhak Rabin enfrentou uma dificuldade ainda maior. Em setembro de 1969, funcionários graduados do Pentágono, do Departamento de Estado e da Central de Inteligência, levaram ao presidente sua apreensão no sentido de que Israel se preparava para a fabricação de um artefato nuclear.
O Departamento de Defesa se empenhou enfaticamente para que Nixon dissuadisse Israel de sua intenção nuclear. Ao cabo de muitas discussões, Kissinger escreveu um memorando para Nixon sugerindo que ele exigisse de Israel um documento no qual o país se comprometeria a fazer uso da energia nuclear para finalidades somente pacíficas e o progresso na capacidade atômica fosse mantido no mais rigoroso segredo. Assim foi feito e o assunto selou uma forte relação de amizade entre Rabin e Nixon, a ponto de Rabin ter apoiado Nixon, também em estrito segredo, na campanha em que o presidente foi reeleito, em 1972. Desde então, Nixon fez amizade com Moshe Dayan e quando conheceu Golda Meir, lhe disse: “Seu chanceler (Abba Eban) fala inglês melhor do que o meu (Kissinger)”.
Rabin encerrou sua missão em Washington em março de 1973 e, no regresso a Israel, engajou-se no Partido Trabalhista, passando a ser uma voz relevante na política do país, como ministro do trabalho no gabinete chefiado por Golda Meir. Em junho do ano seguinte substituiu Golda e assumiu o poder como primeiro-ministro, o primeiro sabra (nascido no país) a atingir este posto. Só voltei a encontrar-me pessoalmente com Rabin em setembro de 1976, quando me convidou para um jantar em seu apartamento, em Ramat Aviv, com bela vista para o Mediterrâneo. Éramos seis convidados: um apresentador da televisão israelense e a mulher, o editor de um grande jornal local e a mulher, um empresário judeu inglês que acabara de emigrar para Israel e eu, recebidos por Rabin e Leah, sua mulher por 47 anos.
Antes, durante e depois do jantar, todas as conversas, ou melhor dizendo, o monólogo de Rabin, com seu modo pausado de falar, como se escolhesse com cuidado cada palavra, foi referente à operação que resgatou israelenses mantidos como reféns por um grupo de terroristas no aeroporto de Uganda, na África Oriental.
Rabin contou que sua primeira reação, quando soube do sequestro do avião da Air France, que se encontrava no terminal conhecido como Entebe, em Uganda, logo lhe ocorreu a possibilidade de enviar uma ação de comandos num percurso aéreo de ida e volta para resgatar os reféns. Mencionou sua hipótese na primeira reunião do gabinete sobre o assunto. A ideia foi descartada porque alguns ministros lembraram a catástrofe ocorrida no aeroporto de Munique, em setembro do ano de 1972, na tentativa de libertar os atletas israelenses aprisionados por terroristas palestinos durante os Jogos Olímpicos. No entanto, depois de dias e da controversa opção de aterrissar em Entebe, a incursão aérea acabou sendo aprovada. Rabin revelou que, àquela altura, tinha muito mais dúvidas do que certezas. Havia um consenso no sentido da utilização de dois aviões do tipo Hércules para transportar os comandos que desceriam em Entebe, mas não era possível assegurar o desempenho dos aviões numa pista que certamente não estaria iluminada. Todos sabiam que a operação só seria bem sucedida se fosse garantido o fator surpresa, o que era bem complicado. Entre a pista do aeroporto e o terminal onde se encontravam os reféns a distância era considerável e os sentinelas ugandenses teriam tempo de avistar o Hércules e o possível desembarque dos comandos. Conforme o relato de Rabin, naquele jantar, a melhor ideia partiu do general Yekutiel Adam. Ele sugeriu que se fizesse uso de um automóvel Mercedes negro, igual ao utilizado por Idi Amin, o ditador de Uganda em seus deslocamentos. Assim, conduzindo parte da tropa de elite, o carro atravessaria a pista do aeroporto sem despertar maiores suspeitas.
Rabin detalhou o treinamento da tropa, a construção de uma maquete que reproduzia o terminal antigo de Entebe, a dificuldade para obter autorização de reabastecimento dos aviões no Quênia, tudo enfim que, ao longo dos anos, foi revelado à exaustão em filmes, depoimentos e reportagens. Mas, naquela noite, decorridos apenas dois meses desde os acontecimentos em Entebe, tudo era para nós, pequeno grupo de ouvintes, uma fascinante e inédita narrativa.
Embora Rabin estivesse todo o tempo no epicentro da operação que antecedeu o resgate, raramente usou a primeira pessoa do singular. Ressaltou a coesão do gabinete nas diversas instâncias da crise, elogiou a determinação de Benny Peled, comandante da força aérea e sua certeza no sucesso dos Hércules. Referiu-se a uma recorrente relutância de Mota Gur, chefe do exército, e só falou de si mesmo quando contou o que tinha feito na reunião decisiva do gabinete, no dia 4 de julho: passara um bilhete para Shimon Peres dizendo que, em sua opinião, os aviões estavam prontos para decolar a qualquer instante rumo a Entebe. Peres assentiu e o gabinete aprovou a operação de resgate. Rabin contou que seguiu para casa sob grande tensão. Para aliviar, foi jogar tênis com a mulher, enquanto aguardava notícias sobre os desdobramentos das ações até saber do final feliz.
Itzhak Rabin voltou ao Rio de Janeiro em 1979, para falar à comunidade sobre o acordo de Camp David, assinado entre Menachem Begin e Anwar Sadat, sob mediação do presidente Jimmy Carter, no ano anterior. Ele não ocupava nenhuma posição no governo, mas julgava que era necessário engajar-se naquele momento histórico. Tornei a entrevistá-lo e perguntei como avaliava o acordo. Respondeu: “Parece retórica, mas foi importante que as partes concordassem que jamais recorreriam ao uso da força para resolver qualquer questão. Foi necessário, também, do ponto de vista formal, superar a resolução número 242 das Nações Unidas, que obrigava Israel a se retirar dos territórios ocupados na guerra de 1967. Porém, a mesma resolução dizia que a retirada deveria ser complementada pelo reconhecimento das fronteiras anteriores a 1967 e pela garantia da segurança de Israel. Foram condições jamais implementadas pelos países árabes, e isso acabou desacreditando a resolução 242”. Rabin julgava que a devolução do Sinai ao Egito não somente era justa como era imperativa e que tanto Begin como Sadat tinham sido sábios quando não incluíram no Acordo de Camp David a questão da formação de um possível estado palestino e o status de Jerusalém, colocando em primeiro lugar os interesses imediatos de seus países. Em seguida, enfatizou: “Sim, há paz entre Israel e o Egito. Mas, que tipo de paz? Eu entendo como paz aquela que passou a existir entre a Alemanha e a França, por exemplo, depois da 2ª Guerra Mundial. Uma paz completa, integral, com laços econômicos, sociais e culturais. Este é um tipo de paz que Israel não terá, mesmo em médio prazo, com qualquer país árabe. Espero que eu esteja errado”.
Em 1983, por ocasião do décimo aniversário da Guerra do Yom Kipur, cuja cobertura jornalística eu tinha feito para as revistas Manchete e Fatos&Fotos, fui a Israel para produzir um documentário para televisão que seria intitulado “A Guerra Que Fez a Paz”. Embora Rabin não tivesse tido uma ação direta no conflito, era importante colher sua avaliação sobre as consequências daquela guerra. Discordou, quando lhe disse o título do programa: “A paz não foi feita por causa da guerra do Yom Kipur, que teve dois antecedentes fundamentais. Em primeiro lugar, foi o fato, logo depois do final a rigor inconcluso da guerra, de o Egito ter renunciado de sua dependência da União Soviética apesar do enorme suporte bélico que esta lhe prestou para a guerra. Para nós, em Israel, foi uma grande surpresa ele ter expulsado do Egito centenas de assessores e instrutores militares soviéticos. Aquilo configurava uma situação completamente nova na nossa fronteira ao sul que, desde a independência do país, sempre se apresentava como a mais sensível. Na verdade, o gabinete chefiado por Begin não sabia o que o futuro imediato aguardava. Foi quando surgiu o segundo passo que levaria à paz: o anúncio de Sadat de que estava disposto a conversar com nossos líderes em Jerusalém”.
Falei-lhe sobre um livro, The Crossing of the Suez (A Travessia do Suez, em tradução livre), escrito pelo general egípcio Shada Shazly, cuja leitura me passara a impressão de que o autor havia superestimado o exército do Egito e subestimado o exército de Israel. Rabin discordou: “Os egípcios foram bem sucedidos na travessia do canal, porém os maiores erros foram nossos. A doutrina das nossas forças de defesa sempre se pautou por alguns princípios básicos: primeiro, o fator surpresa; segundo, a constante mobilidade; terceiro, a rápida convocação dos reservistas, a rigor o grosso da tropa. O Egito nos atacou tendo a surpresa a seu favor, por conta da precária atuação do serviço de inteligência do nosso exército. Em vez da mobilidade, ficamos estáticos na chamada Linha Bar Lev, um erro fatal. Por fim, por causa do Kipur houve demora até que a reserva se apresentasse. Esses fatores explicam o êxito do Egito na primeira semana da guerra. Só recuperamos a iniciativa e nossa capacidade bélica quando Arik Sharon atravessou o canal na direção do Cairo.
Rabin acrescentou que naquele ano de 1983 permanecia incerta a situação de Israel no Oriente Médio com relação a seus inimigos. Disse que ficou muito abalado com o assassinato de Sadat pela Irmandade Muçulmana, dois anos antes: “Ele trocou a própria vida por seu projeto de paz. Era uma pessoa previsível e influenciava toda a região. Agora não sabemos o que vai acontecer”. Em seguida, abordou outro assassinato político, o do líder cristão Bashir Gemayel, na guerra do Líbano, em 1982: “Eu já havia me encontrado com ele secretamente duas vezes num navio, ao largo da costa libanesa. Era um rapaz agradável e dizia estar empenhado para que o Líbano fizesse paz com Israel. Quando Sharon ocupou Beirute, pareceu que Gemayel assumiria o poder e tudo daria certo, mas foi assassinado por fanáticos e o Líbano nunca mais se encontrou”.
Hoje, tantos anos depois do último encontro que tive com Itzhak Rabin, guardo com emoção suas palavras sobre aqueles dois assassinatos, uma terrível premonição sobre seu próprio destino.
Na primeira entrevista com Rabin, fiz referência a uma fotografia emblemática, tirada no dia seguinte ao da conquista do setor árabe de Jerusalém, na qual ele aparece caminhando por uma viela ao lado dos generais Moshe Dayan e Uzi Narkiss. Perguntei o que lhe passava pela cabeça naquele momento. Respondeu: “Nós estávamos caminhando na direção do Muro. Refleti que percorria dois mil anos em apenas dois quilômetros”.
Zevi Ghivelder é escritor e jornalista.