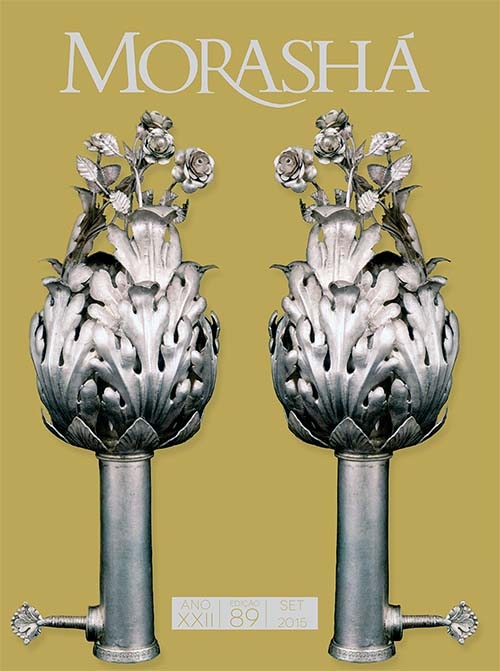Após uma crise iniciada em 2002 e de uma rodada de negociações com 20 meses de duração, as potências globais, reunidas no grupo P5+1, e o Irã anunciaram, a 14 de julho em Viena, um acordo sobre o programa nuclear de Teerã.
Para os arquitetos da iniciativa, entre eles o presidente Barack Obama, trata-se de um momento histórico e um passo para evitar uma guerra. Para os críticos, entre eles o primeiro-ministro Benyamin Netanayahu, um erro de proporções catastróficas, responsável por fortalecer um país que defende a destruição de Israel e patrocina grupos terroristas.
Assim que o acordo foi anunciado, começou uma batalha política tendo o Congresso norte-americano como palco. O presidente Obama, sabedor da polêmica envolvendo a estratégia, concordou em buscar a aprovação de senadores e deputados para o acordo, num cálculo arriscado. As duas casas legislativas abrigam hoje maioria da oposição, e a Casa Branca espera contar com votos republicanos para aprovar o acordo e compensar a perda de apoio entre alguns parlamentares democratas.
A votação deverá ocorrer a 17 de setembro, fim do prazo de 60 dias que o Congresso dispõe para estudar o acordo. Até a decisão, intensa movimentação política produziu um embate claro entre o presidente Obama e os opositores ao acordo, liderados por Netanyahu e por parlamentares republicanos.
No olho do furacão, um documento de mais de 150 páginas, conhecido como Acordo de Viena e produzido em arrastadas e tensas negociações entre o regime teocrático iraniano e o P5+1, formado por Estados Unidos, China, Rússia, França, Reino Unido e Alemanha.
A premissa básica do acordo repousa sobre a ideia de o Irã recuar de suas ambições nucleares em troca do fim de sanções econômicas internacionais, responsáveis por asfixiar nos últimos anos a economia do país. O desemprego atinge a taxa de 20% e a indústria petrolífera, por exemplo, enfrenta sucateamento pela dificuldade em importar tecnologias mais modernas.
Com bomba atômica, o regime de Teerã se tornaria uma ameaça maior não apenas a Israel, cuja destruição prega abertamente. Países árabes sunitas também protagonizam com o Irã xiita uma disputa por liderança no mundo muçulmano e por hegemonia no golfo Pérsico, ponto vital para escoamento da produção petrolífera da região e, portanto, nevrálgico para economia global. Frear ambições nucleares iranianas também desponta como sinal importante para avançar políticas globais de não-proliferação de armas atômicas.
Tais ameaças levaram à formação de uma coalizão entre as potências globais, com o objetivo de pressionar o governo dos aiatolás. Porém, no grupo, evidenciaram-se também estratégias distintas, já que Rússia e China defendiam uma linha de enfrentamento mais moderada com o Irã, pois temem o país com armas nucleares, mas não querem comprometer o relacionamento comercial existente com Teerã.
A liderança no P5+1, apesar das diferenças, coube aos EUA, que não têm relações diplomáticas com o Irã desde a Revolução Islâmica de 1979, que depôs o xá Reza Pahlevi e levou o aiatolá Khomeini ao poder. E Barack Obama, na reta final do seu segundo mandato, elegeu como uma de suas prioridades a obtenção de novas relações com seus adversários históricos, Cuba e Irã. O acordo histórico com os irmãos Castro veio em dezembro. Restava o intricado tema nuclear.
Ao tentar escrever seu legado na arena diplomática, Obama apostava em deixar a marca de presidente que terminou a Guerra do Iraque. Mas o surgimento do Estado Islâmico inviabilizou a estratégia da Casa Branca. Cuba e Irã passaram a ocupar mais destaque na agenda de Washington, o que se evidenciou nos últimos seis meses.
Obama também pretende inscrever nos anais da Casa Branca a ideia de ter sido o presidente responsável por transferir o “pivô” da política externa de seu país do Oriente Médio para a Ásia. No jargão da diplomacia, a expressão se refere ao foco principal, para receber mais atenção dos estrategistas do Departamento de Estado e do Pentágono.
A ideia de mudar o “pivô” permeou diversas administrações anteriores. No entanto, foi com Hillary Clinton à frente da diplomacia dos EUA, no primeiro mandato de Obama, que a ideia começou a ganhar contornos mais concretos. Nas últimas décadas, devido aos fatores terrorismo e petróleo, o Oriente Médio despontou como foco privilegiado. A meteórica ascensão da China e o dinamismo das economias como Índia e Indonésia, entre outras, levaram a Casa Branca a tentar acelerar a transferência do “pivô” a paragens asiáticas.
Segue a lógica da Casa Branca: transformar a Ásia em prioridade para ações diplomáticas, comerciais e militares dos EUA implica diminuir presença no Oriente Médio, a fim de drenar recursos para atuação no novo “pivô”. O presidente Obama acredita também que uma melhora nas relações com o Irã seja fundamental para diminuir tensões na região e permitir à Casa Branca deslocar recursos políticos e militares rumo à Ásia.
Com essa lógica na pasta, Obama se transformou no primeiro líder norte-americano, desde 1979, a ter um contato direto com um dirigente iraniano. Conversou com o presidente do Irã, Hassan Rouhani, por telefone, em 2013. E colocou nas mãos de seu secretário de estado, John Kerry, a tarefa de liderar as espinhosas negociações.
O acordo de Viena foi construído sobre alguns pilares básicos. Um deles é o “breakout time”, expressão usada para descrever o tempo consumido entre o Irã decidir fazer a bomba atômica e ter o artefato pronto. A maioria das estimativas aponta que o regime teocrático conseguiu montar uma infraestrutura, com usinas, centrífugas e armazenamento de urânio, que coloca o país, caso “aperte o botão para obter a bomba”, a dois ou três meses de seu objetivo.
No acordo anunciado a 14 de julho, uma dos pontos é levar o “breakout time” a um ano. Ou seja, diminuir a infraestrutura nuclear do país a fim de deixar um intervalo de doze meses entre o governo dos aiatolás ordenar a produção e obter as primeiras peças prontas. Concretamente, o Irã se compromete a diminuir número de centrífugas e abrir mão de parte significativa de seu estoque de urânio enriquecido, matéria-prima para a bomba atômica, enviando-o a um terceiro país, provavelmente a Rússia.
O monitoramento do programa nuclear, a ser liderado pela Agência Internacional de Energia Atômica, desponta como outro ponto básico. O regime de fiscalizações será reforçado, com ampliação do acesso de inspetores e de câmeras de vídeo a instalações do sistema atômico iraniano.
Segue a lógica do acordo: caso nos seis meses iniciais de implementação, o Irã cumpra o entendimento, a parte mais significativa das sanções econômicas serão levantadas. Alguns estudos apontam que, com o fim do embargo, o país receberá uma injeção de cerca de 100 bilhões de dólares, oriundos de investimentos estrangeiros e outras fontes.
Para Obama, sem um acordo, o Irã caminharia inexoravelmente à bomba atômica, o que tornaria uma guerra no Oriente Médio inevitável. O premiê Benyamin Netanyahu contesta a tese, classifica o acordo como “erro histórico” e aponta para o fortalecimento do regime dos aiatolás, graças ao fim do isolamento político e econômico. O governo israelense lembra ainda dos vínculos de Teerã com grupos terroristas como o Hezbolá, que controla atualmente, na prática, o Líbano, e conta com milhares de foguetes apontados para solo israelense.
Ao lado de republicanos e com apoio do líder da oposição trabalhista, Chaim Herzog, Netanyahu embarcou numa ofensiva com intuito de brecar o acordo no Congresso norte-americano. Mobilizou ainda em seus esforços o AIPAC e políticos democratas, incluindo alguns pesos-pesados do partido, contrários à estratégia iraniana de Obama. Entre eles, o senador Chuck Summer, de Nova York, uma das vozes judaicas mais influentes no debate político dos EUA.
De seu lado, Obama também amealha apoios para o embate final, em setembro. Internacionalmente, conseguiu adesão da Arábia Saudita e do Egito, potências sunitas e que veem também com desconfiança e temor o papel do Irã no Oriente Médio. No começo de agosto, a Casa Branca recebeu uma carta de apoio assinada por 29 cientistas, entre eles seis Prêmio Nobel e veteranos da área de controle de armamentos e do programa nuclear norte-americano.
Em Israel, apesar da rejeição maciça da opinião pública ao acordo, algumas vozes saíram em defesa da estratégia de Obama e com críticas à ação de Netanyahu, como Amy Ayalon, ex-chefe do Shin Bet, e Efraim Levy, que comandou o Mossad.
O Congresso norte-americano, já contaminado pelo início da campanha pela Casa Branca em 2016, se transformou num palco de enfrentamento principal do acordo de Viena, após o anúncio de 14 de julho. Na primeira votação, para aprovar ou não o entendimento, basta uma maioria simples, ou seja, 50% mais 1 dos votos. Se a iniciativa obamista for rejeitada, o presidente reúne poder para vetar a decisão parlamentar. Mas o enfrentamento continua. Senadores e deputados podem derrubar o veto presidencial, embora nessa fase precisem reunir dois terços dos votos. Ou seja, mais batalhas políticas surgem no horizonte de Washington.
Jaime Spitzcovsky, foi editor internacional e correspondente da Folha de S. Paulo em Moscou e em Pequim.