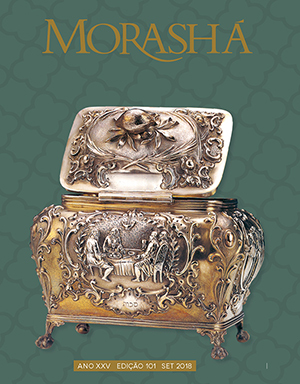Um campo de batalha tem pouco a ver com as cenas que nos acostumamos a ver no cinema. A rigor, por causa da distância que separa os combatentes, quem está do lado de cá não sabe o que está acontecendo do lado de lá. A guerra só se faz presente quando se ouve o estrondo de um tiro de canhão e, em seguida, há o sopro de um vento quente, resultante do disparo. Eu sei que é assim porque estive no canal de Suez e no campo de batalha das colinas do Golã, 45 anos atrás, durante a Guerra do Yom Kipur.
Há cinco anos, 40 anos depois da Guerra do Yom Kipur, o governo de Israel tornou público um de seus mais importantes documentos confidenciais. Trata-se do depoimento prestado por Golda Meir, à época chefe do governo, perante a Comissão Agranat, a comissão presidida por Shimon Agranat, então juiz da Suprema Corte de Israel. Competia a essa comissão apurar as responsabilidades individuais e coletivas referentes aos antecedentes e desdobramentos daquela guerra que custou as vidas de 2.500 militares da ativa e da reserva das Forças Armadas de Israel.
Golda declarou que tinha uma intuição no sentido de que, em outubro de 1973, uma guerra com o Egito era iminente, mas se absteve de ordenar um ataque preventivo. No seu entender, conforme testemunhou, se Israel disparasse o primeiro tiro, decerto seria reprovado pelos Estados Unidos que não se envolveriam para ajudar Israel caso uma guerra se concretizasse. Mas, de fato, no posterior decorrer do conflito, Israel recebeu dos Estados Unidos 6 mil toneladas de armamentos e equipamentos, além de 40 aviões do tipo Phantom e 35 caças Skyhawk de combate.
Na manhã do dia 2 outubro, portanto quatro dias antes do início do conflito, Golda Meir teve que fazer uma viagem a Estrasburgo, França, para participar de um encontro com o Conselho da União Europeia. No aeroporto, antes de embarcar, foi informada de que a Síria tinha reunido grande quantidade de tropas junto à sua fronteira com o Golã e o Egito tinha feito o mesmo na margem do canal de Suez. Entretanto, ao mesmo tempo, um relatório do serviço de inteligência dizia que a movimentação síria se devia ao temor de um ataque por parte de Israel e que o Egito não poderia empreender qualquer agressão antes de duas semanas.
Golda regressou a Israel pouco depois da meia-noite e convocou uma reunião para a manhã seguinte com Dayan, Ministro da Defesa, os generais Elazar e Shalev, do Estado-Maior, e Benny Peled, comandante da Força Aérea. Todos concordaram que não havia um perigo imediato de guerra. Golda, então, convocou Eli Zaira, chefe do serviço de inteligência militar, para uma reunião na manhã seguinte à da celebração do Yom Kipur. Nesse meio tempo, enfatizou, era preciso concluir a lista de pedidos a ser encaminhada ao presidente Nixon e acentuar que a remessa era urgente.
Porém, antes do dia acertado, Zaira foi ao encontro de Golda e lhe disse ter recebido uma notícia preocupante: as famílias dos consultores e assessores soviéticos estavam partindo às pressas do Cairo e de Damasco. Zaira acrescentou estar surpreso em face do comportamento do chefe do Mossad, Zvi Zamir, que havia deixado o país horas antes, ainda de madrugada. Golda ignorava que Zamir estava fora de Israel numa hora tão crucial, mas imaginou que decerto ele tinha ido ao encontro de alguma fonte muito importante, o que de fato foi o que aconteceu, conforme se ficou sabendo anos mais tarde.
O juiz Agranat perguntou a Golda se era comum o chefe do Mossad deixar o país sem dar conta de seus passos à Chefe do Governo. Ela respondeu que era algo realmente inusitado, porém justificado pela premência das circunstâncias.
Na véspera da eclosão do conflito, houve uma reunião do gabinete israelense. Golda informou que estava pensando em convocar os reservistas, que constituíam 80 por cento das forças armadas, mas nenhum ministro concordou.
O general Bar Lev lhe disse: “Você está aqui cercada pelos militares mais experientes do país. Nenhum deles julga conveniente chamar a reserva. Só você, que é civil, está insistindo nisso”. Às quatro horas da manhã de sábado, Golda ordenou a convocação dos reservistas, por causa do relatório assinado por Zamir, que lhe havia sido entregue pelo chefe de gabinete do Mossad. Às duas horas da tarde os sírios e egípcios partiram para o ataque contra Israel.
Sadat e Assad tinham objetivos bélicos diferentes. Para Sadat, a guerra era uma opção desesperada, mas ele não ele via outra saída se o Egito quisesse recuperar o orgulho nacional ferido após a derrota sofrida na Guerra dos Seis Dias. Sadat não pretendia recapturar militarmente todo o Sinai, mas queria desferir um golpe certeiro que servisse para solidificar ainda mais sua posição diplomática no plano externo e sua política no âmbito interno do país. Ele se arriscava numa jogada complexa, destinada a algum dia, num futuro próximo, sentar-se à mesa de negociações com Israel numa posição de maior igualdade. Assad, por sua vez, via a guerra apenas como um veículo para reconquistar, pela força, o território do Golã perdido em 1967 e, ao mesmo tempo, ratificar sua recusa em reconhecer o direito de Israel à existência.
O primeiro passo que Síria e Egito deram na direção de um confronto bélico foi a reestruturação de seus exércitos e modernização de seus armamentos. Em abril de 1972, a CIA chegou a alertar Israel sobre o aumento e a modernização do poderio militar daqueles dois países, mas os israelenses não deram a devida importância à informação. Não só isso, como no dia 25 de setembro o rei Hussein, da Jordânia, fez uma viagem secreta a Tel Aviv, onde, numa casa preparada pelo Mossad, se encontrou durante uma hora com Golda Meir. O monarca advertiu a primeira-ministra que tudo indicava que o Egito e a Síria fariam uma incursão militar contra Israel. A conversa foi ouvida numa sala contígua pelo coronel Keniezer, encarregado pelos assuntos jordanianos no serviço militar de inteligência. Este comunicou o que ouvira a seu superior, o general Shalev. Porém, por algum motivo insondável, o assunto ali ficou parado.
Nos meses anteriores à guerra, a União Soviética tinha vendido à Síria e ao Egito grande quantidade de modernos armamentos, incluindo equipamentos para visão noturna, uma nova geração de veículos de infantaria e os mísseis antitanques Sagger, que podiam ser manejados por um único artilheiro. Israel soube que a Síria e o Egito tinham recebido aqueles mísseis, mas as forças armadas não demonstraram grande interesse nos Sagger.
Entretanto, assim que irrompeu a guerra, ficou claro que eles eram uma ameaça à superioridade dos tanques israelenses no campo de batalha. Para os dois países inimigos, a Força Aérea israelense representava o maior perigo, já que nas guerras anteriores seus extraordinários pilotos haviam imposto grandes perdas aos adversários. Para tentar resolver o problema, egípcios e sírios instalaram um amplo sistema de defesa antiaérea, equipado com mísseis superfície-ar de fabricação soviética. No Golã, os consultores e técnicos soviéticos assumiram a tarefa de integrar um conjunto desses mísseis apontados para diferentes altitudes, radares e sistemas óticos de controle de disparos
Apesar de todos os cuidadosos preparativos militares, o fator surpresa seria o elemento-chave da estratégia. Se conseguissem surpreender Israel com um ataque simultâneo em duas frentes – no Sinai e no Golã – sírios e egípcios ganhariam preciosas horas de vantagem para avançar e consolidar suas posições antes que Israel pudesse reagir de forma decisiva.
Foi devido às circunstâncias das indecisões que o governo israelense achou por bem instituir a Comissão Agranat, composta por cinco membros: dois juízes da Suprema Corte, Agranat e Landau, o controlador das finanças do Estado, Itzhak Nebenzahl, e dois ex-chefes do Estado-Maior das Forças Armadas, Ygal Yadin e Chaim Laskov. Depois de examinar centenas de documentos e ouvir dezenas de testemunhos, eles recomendaram o afastamento de cinco militares de alta patente, incluindo o general-chefe do Estado-Maior, David Elazar, responsabilizados por não terem tomado providências efetivas nos dias que antecederam a Guerra do Yom Kipur. Moshe Dayan e Golda Meir foram inocentados.
A Comissão apresentou suas conclusões em fevereiro de 1974, seis meses depois do conflito, acentuando que Israel podia considerar-se vitorioso porque tinha obtido ganhos territoriais e suas forças armadas tinham-se posicionado a uma estratégica distância do Cairo e de Damasco. Mesmo assim, duas semanas depois da divulgação do chamado Relatório Agranat, Golda Meir renunciou a seu posto, dizendo não suportar a mágoa e a revolta da opinião pública pelos mortos na guerra.
Assim como Golda, o general David “Dado” Elazar também renunciou à sua posição no exército. Nascido em Sarajevo, de origem sefaradi, Dado chegou à antiga Palestina em 1940. Lutou na Guerra da Independência e teve importante atuação na Guerra dos Seis Dias, quando assegurou a posse das colinas do Golã. Cumpriu uma brilhante carreira militar e, com a patente de general, foi nomeado chefe do Estado-Maior em 1972.
Aqui abro um parênteses. Conheci David Elazar no Rio de Janeiro em novembro de 1975. Acho que tinha ganhado uma espécie de prêmio de consolação por parte do governo de Israel, que lhe havia permitido dar uma volta ao mundo. Veio ao Rio sozinho, sem nenhuma escolta, um turista anônimo. Encontramo-nos num fim de tarde na minha sala na Manchete, onde conversamos por mais de duas horas. Eu o conhecia por fotografias e por tê-lo visto de longe, duas ou três vezes, em Israel. Em 1973, ano da Guerra do Yom Kipur, Dado exibia um vigor físico fantástico, completado por seus cabelos negros e porte atlético. Não foi esta a pessoa que encontrei no Rio. Estava quase grisalho e a voz parecia ter sumido. Cada vez que fiz menção a algum aspecto da Guerra do Yom Kipur, respondia com monossílabos, ou mudava de assunto ou recorria a evasivas. Era um homem irremediavelmente triste. Eu tinha curiosidade de saber sua opinião sobre o polêmico Arik Sharon, que era meu amigo e que tinha virado o curso da guerra a favor de Israel, quando atravessou o canal de Suez na direção do Cairo. Respondeu sobre Arik com poucas restrições e poucos elogios.
Depois da divulgação das conclusões da Comissão Agranat, a opinião pública de Israel se dividiu com relação a Dado. Houve quem lhe atribuísse culpa por ter hesitado no início do conflito e também quem o justificasse, argumentando que ele nada poderia ter feito contra as decisões do gabinete ministerial. David Elazar morreu em Tel Aviv no dia 25 de abril de 1976, com apenas 51 anos de idade. Seus amigos dizem que a causa da morte não foi um ataque do coração, mas deveu-se a seu coração partido por grande sofrimento.
Dentre os segredos referentes à Guerra do Yom Kipur, somente há pouco tempo foi desvendado o mistério da viagem do chefe do Mossad, Zvi Zamir, para o exterior, na quinta-feira, 4 de outubro, 48 horas antes do começo da guerra. Ele ia ao encontro do egípcio Ashraf Marwan, que fora genro do ditador Gamal Abdel Nasser e era do círculo próximo a Anwar Sadat. Por incrível que pareça, desde os anos 70, Marwan vinha atuando como espião a favor de Israel, sob o codinome Anjo. Mas seu único contato com Jerusalém era um agente do Mossad estacionado no Reino Unido, conhecido como Dubi. Eram dez horas da noite em Londres, no dia 4, quando Zamir e Dubi chegaram a um apartamento fortemente protegido. Esperaram durante uma hora e meia, o que não era comum, porque Marwan tinha o hábito da pontualidade. Finalmente o egípcio apareceu e os três homens se sentaram em volta de uma mesa. Marwan estava tenso e logo começou a falar: “Eu passei a tarde inteira na nossa embaixada, em Kensigton, de onde telefonei muitas vezes para o Cairo a fim de obter o maior número possível de informações. Agora posso lhes dizer que Sadat vai desfechar uma guerra amanhã”. Ante a surpresa de Dubi e Zamir, o próprio egípcio se surpreendeu. Ele achava que Israel já possuía essa informação. Na verdade, quando Zamir soube que as famílias dos soviéticos estavam sendo evacuadas, concluiu que uma ação militar era iminente, mas não num espaço de tempo tão imediato.
Naquele momento, Zamir ficou cético. Em primeiro lugar porque em outras ocasiões Marwan informara sobre ataques que não aconteceram. Em segundo lugar porque a informação que estava transmitindo se baseava em telefonemas. Ele não tinha falado pessoalmente com nenhuma fonte válida de credibilidade. Marwan retrucou, dizendo que estivera no Cairo na semana anterior, que frequentara os corredores do poder, e que sentiu que ali havia uma atmosfera diferente do habitual. Zamir insistiu: “Mas você tem certeza que havia preparativos para uma guerra?” Marwan irritou-se e elevou o tom de voz: “O Sadat não bate bem. Tem horas que ele diz que vai avançar, manda todo o mundo avançar, e depois volta atrás”. Enfim, o chefe do Mossad concluiu que não tinha alternativa a não ser acreditar em Marwan. O que o afligia é que estava há muitas horas longe de Israel e não sabia se àquela altura o gabinete já tinha decidido convocar os reservistas. Ele mesmo, na condição de ex-general, estava certo de que a convocação já deveria ter sido ordenada. Marwan não trouxera nenhum documento, mas passou a reconstituir de memória os telefonemas que havia feito para o Cairo. Disse que a infantaria egípcia atravessaria o canal de Suez numa extensão de dez quilômetros no rumo Norte; que a Força Aérea faria incursões no Sinai de modo a dificultar a aproximação de tropas israelenses até o canal de Suez; que aviões do tipo Tupolev iriam bombardear, em Tel Aviv, o quartel-general das Forças de Defesa de Israel. Ao final do encontro, Zamir tinha a cabeça feita: de fato, Síria e Egito estavam prestes a atacar Israel.
Zamir e Dubi se dirigiram para o escritório do Mossad, a dez minutos a pé. O chefe do Mossad fervilhava: e se nada viesse a acontecer? Será que ele deveria mesmo relatar tudo para Golda? No escritório encontrou-se com Zvi Malhin, agente encarregado da segurança de sua entrevista com Marwan. Experiente, Malhin também julgava que a eclosão de um conflito era uma questão de horas. Zamir, então, mandou a seguinte mensagem criptografada para seu chefe de gabinete: ”Parece que a empresa pretende assinar o contrato, nas condições que já conhecemos, antes do anoitecer. A empresa sabe que amanhã é feriado. Falei com o gerente; ele ainda depende da decisão de outros gerentes, mas está disposto a manter o trato.
A empresa quer evitar que o contrato se torne público antes da assinatura porque teme que seus acionistas possam pensar de maneira diferente. Eles têm parceiros fora da região. Segundo informação de Mr. Anjo, a chance de assinatura é de 99 por cento”. De manhã cedo, Dubi levou a mensagem para a embaixada de Israel em Palace Green, em cuja sala de comunicações enviaria o conteúdo para Tel Aviv. Contudo, por causa do Yom Kipur, a sala estava fechada e levou um bom tempo até que achassem o funcionário encarregado de abri-la e enviar a mensagem. O destino de Israel dependia daquela transmissão.
A Guerra do Yom Kipur foi travada no auge da guerra fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Como os russos estavam firmemente engajados do lado árabe, incluindo assessores militares, Israel sempre julgou que, num momento de grande perigo, poderia contar com os Estados Unidos. Mas, embora os americanos viessem a fornecer grande quantidade de armas e equipamentos para Israel, Golda e seu gabinete sofreram enorme angústia entre os dias 6 e 13 de outubro, primeira semana do conflito. Desde o começo da guerra, Israel havia perdido um quinto de sua força aérea e as forças terrestres começavam a acusar falta de munição.
A Casa Branca já recebera a lista enviada por Golda, mas o Pentágono se opunha à liberação dos armamentos. O embaixador de Israel em Washington, Simcha Dinitz, mantinha bom relacionamento com Henry Kissinger, que era favorável ao auxílio a Israel. Apesar das posições do Secretário de Defesa e do Pentágono americanos, Kissinger fez valer sua influência junto ao presidente Nixon para que fosse atendido o pedido da lista. Um dos segredos da Guerra do Yom Kipur, até hoje não desvendado, dá conta de que no dia 12 de outubro Kissinger teria recebido uma informação segundo a qual Golda havia mandado armar artefatos atômicos para enfrentar uma situação que caminhava para ser desesperadora. Verdade ou não, o fato é que, a partir do dia 13 de outubro, a remessa de aviões, veículos blindados e toneladas de munições começou a ser feita para Israel.
Outro segredo da guerra é referente ao destino do Terceiro Exército egípcio, que tinha atravessado o canal de Suez, mas não pode mais se mover, porque as tropas israelenses estavam na sua retaguarda, do outro lado do canal, e à sua frente no Sinai. Tive a oportunidade de observar de perto aquele exército sitiado e conversar com alguns de seus oficiais. Foram todos cordatos e nenhum deles manifestou qualquer sintoma de ódio, nem mesmo de raiva, com relação a Israel.
Estavam conformados com aquela situação e pressentiam que alguma solução seria encontrada em seu benefício. De fato, havia mais gente preocupada com eles, a começar por Leonid Brejnev, o poderoso chefão do Kremlin. Brejnev mandou uma mensagem para Nixon, dizendo que se Israel não abrisse passagem para os egípcios, ele mandaria tropas e paraquedistas para libertá-los. Kissinger interpretou aquele ultimato como o prenúncio de uma guerra mundial. Chamou o embaixador Dinitz e praticamente ordenou que ele tomasse uma providência imediata. Ao final do que poderia ser um grave entrevero, nenhum soldado egípcio do Terceiro Exército sofreu sequer um arranhão.
A par de alguns outros episódios ocorridos durante a Guerra do Yom Kipur, sobre os quais já escrevi aqui na Revista, outros dois me foram marcantes durante a cobertura do conflito. O fotógrafo Paulo Scheunstuhl, meu companheiro de jornada, chegara a Israel um dia antes do que eu. Rumou para a batalha no Golã e lá viu um cinegrafista americano sendo atingido por um estilhaço de granada. O rapaz sangrava e dizia que estava sentindo muito frio.
O Paulo tirou sua jaqueta de couro e cobriu o jovem, logo levado por uma ambulância. Só mais tarde se deu conta de que no bolso da jaqueta estava seu passaporte. No dia seguinte, já na minha companhia, quando descemos do Golã fomos para o hospital Rambam, em Haifa, onde nos disseram que deveria estar internado o americano ferido. Fomos recebidos pelo administrador, muito gentil, que prometeu fazer o possível para localizar o passaporte.
E agora? Bem, sem o passaporte, só restaria ir à Embaixada do Brasil e pedir algum documento válido para sair do país. Três dias depois, estávamos no Beit Sokolov, o centro de imprensa em Tel Aviv, tarde da noite, quando apareceu um oficial do exército procurando pelo Paulo para entregar-lhe o passaporte perdido. Naquele momento, pensei comigo mesmo, que, se em meio àquele conflito tão sombrio, um militar israelense ainda havia se empenhado para ir ao encontro de um aflito jornalista brasileiro, então não tinha como Israel perder aquela guerra.
O outro episódio é pungente e me emociona até hoje, tantos anos depois. Uma bizarrice do conflito em Israel era que a cobertura jornalística tinha que ser feita com um carro alugado em cujo para-brisa colocávamos a palavra “Press” com letras grandes. As viagens de Tel Aviv até o canal de Suez, atravessando todo o deserto do Sinai, eram penosas: pelo menos sete horas numa estreita estrada de asfalto, a cada momento bloqueada por tanques e outros veículos militares. Quando passávamos junto a esses veículos, muitos soldados nos interrompiam. Vinham até nosso carro e nos entregavam pequenos pedaços de papel nos quais escreviam o telefone de suas casas, nomes femininos, e me pediam, já que eu entendia o básico do hebraico: “Quando voltar para Tel Aviv, por favor telefona para a minha mãe, diz que eu estou vivo e bem”.
Como eu regressava ao hotel já de madrugada, deixava os telefonemas para o dia seguinte. Era uma tarefa difícil, primeiro porque eu mal falava hebraico, segundo porque as pessoas que atendiam aos telefones se assustavam na certeza de que iriam receber uma péssima notícia. Um daqueles telefonemas foi para uma mulher da qual me recordo apenas o sobrenome: Pinto. Depois do susto, quando ela soube em que hotel eu estava, disse que viria se encontrar comigo para colher um depoimento ao vivo, já que morava ali por perto.Não sei mais descrevê-la com pormenores. Só lembro que tinha pouco mais de 50 anos, olhos negros e as mãos pequenas. Depois de perguntar sobre o filho uma dúzia de vezes, contou-me a história que transcrevo, sem acrescentar uma vírgula.
“Quando os alemães começaram a arrasar o gueto de Vilna, fui levada com meu marido e um filho pequeno para o campo de Maidanek. Na chegada, fiquei separada do meu marido e nunca mais o vi. Meu filho ficou comigo pouco tempo no barracão das prisioneiras. Um dia, foi levado com outras crianças e também nunca mais o vi. Sobrevivi à guerra e desembarquei sozinha em Haifa três semanas depois da independência. Aqui casei com um rapaz sefaradi de sobrenome Pinto e temos um filho, o que você encontrou no Sinai. Olha, se este filho não voltar, não vou chorar, porque vou saber porque ele morreu. Mas choro todos os dias pelo que ficou em Maidanek. Choro porque nunca vou saber por que ele morreu”.
Zevi Ghivelder é escritor e jornalista